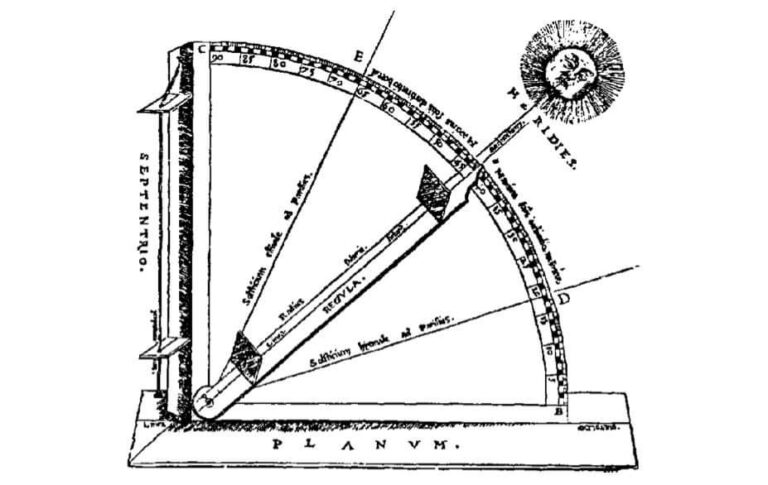Por ALICE ROSSI & LINCOLN SECCO*
Réplica ao artigo de Joana Salém de Vasconcelos
Joana Salém de Vasconcelos, a quem definimos como uma importante pesquisadora da questão agrária na América Latina, deu-nos a honra de responder à nossa crítica ao artigo dela (cf. Sobre Cuba e a dialética da revolução, publicado em A Terra é Redonda).[i] Igualmente, a professora Marisa de Oliveira nos brindou com um comentário crítico elegante e respeitoso[ii].
Teceremos breves observações acerca da crítica de Marisa de Oliveira. Seu aspecto mais interessante é, sem dúvida, a compreensão de que o debate travado entre nós e Salém parte de um mesmo ponto: a defesa da revolução e o entendimento da força interna como causa do prolongamento dessa Revolução até os dias de hoje. Porém, gostaríamos de ressaltar que nossa divergência com Salém é profunda, e não se resume apenas a uma questão de mais ou menos ênfase no bloqueio como elemento da crise cubana – como bem pontua Marisa de Oliveira “o que colocamos depois do mas é o que verdadeiramente importa”
Antes de partir para o artigo de Salém, gostaríamos de comentar que concordamos com o último ponto da crítica de Marisa de Oliveira. De fato, se nossa defesa é a de Cuba como uma zona crítica, não faz sentido comparar a crise cubana com as revoltas no Chile e Colômbia – que podem ser consideradas como regiões de grande tensão, mas tensões bem diferentes daquela que é gerada pelo imperialismo na ilha caribenha.
Agora vamos dar maior atenção ao texto de Joana Salém Vasconcelos porque foi o seu artigo que originou o debate. Com isso, sacrificamos respostas que poderiam abrir outra discussão muito proveitosa com o excelente artigo de Marisa de Oliveira.
Diferentemente da forma que Joana Salém Vasconcelos escolheu, vamos nos deter apenas nos seus argumentos escritos e emitir opiniões gerais sobre o tema mais amplo das revoltas populares.
Nossa primeira constatação é que a autora reformulou o seu argumento central a partir dos nossos comentários. Para viabilizar a mudança, sua réplica se baseou na hipótese de que nós não conseguimos compreender o que ela escreveu. Embora tenha incorporado na aparência a centralidade que demos ao bloqueio econômico, ela manteve suas posições originais, as quais negavam aquela mesma centralidade.
No seu primeiro texto, o “bloqueio dos EUA” é definido como “parte importante dessa crise”. O uso da preposição com o pronome demonstrativo singulariza o papel do bloqueio que, em seguida, é apresentado no mesmo patamar que pandemia, turismo, escassez de divisas e de produtos, fim abrupto do CUC, pressão inflacionária do mercado paralelo, desequilíbrio entre necessidade e renda etc. Nós pensamos diferente: todos os elementos apresentados naquela frase decorrem do primeiro termo.
A explicação que Salém fornece não é que o bloqueio seja estrutural, termo que ela reivindica em sua réplica, mas que não foi utilizado no primeiro artigo. Na verdade, ela o define como “um monstro que está sendo misteriosamente derrotado há 60 anos por causa dessa agência interna”. Essa expressão é reveladora porque reduz o fenômeno a uma agência interna.
Para nós é impossível ignorar o papel da União Soviética até sua dissolução, porque depois disso Cuba teve que atravessar um período especial ditado não apenas pelo fim do “comércio justo” com o bloco socialista, mas também pelo recrudescimento das medidas anticubanas nos EUA: leis Helms-Burton e Torricelli, além de recentes medidas de Trump entre muitas ações de terrorismo.
Salem está num horizonte político diverso do nosso e mobiliza argumentos adequados àquele horizonte. Em nosso caso, as determinações do socialismo bloqueado se fazem valer mediante causas internas, mas continuam tendo um peso incontornável por qualquer “agência”. Não é casual que os protestos dos anos 1990 tenham ocorrido no contexto do reforço do bloqueio pelos EUA e da queda da União Soviética; também não é devido principalmente à “raiva” que as manifestações eclodiram após medidas duríssimas de Trump que aumentaram o embargo a Cuba. Em ambos os casos, houve decisões do governo que agravaram a situação, mas elas foram tomadas por causa do bloqueio.
Quem dá primazia à agência acredita que a solução é o aprofundamento da democracia e do poder popular; nós procuramos situar a vontade política admirável da população cubana nas estruturas em que ela opera.
Não se trata de uma questão de ignorar a agência interna cubana e sua importância para a longevidade da Revolução, mas sim de entender que toda e qualquer agência está condicionada pelo bloqueio do início ao fim. Salém escreve em sua réplica que ao considerar o embargo como “fator unidimensional absoluto”, estaríamos nos esquivando de “debater os desafios do socialismo real cubano, dependente e periférico”, mas em nenhum momento defendemos o bloqueio como fator único da crise cubana e sim como a sua moldura estrutural, a qual impõe limites; sustentamos que a complexidade das questões do socialismo cubano deve ser compreendida em seu contexto: um bloqueio brutal de 60 anos.
A autora diz que defendemos a “unidimensionalidade das explicações históricas”. Mas para nós não se trata aqui de quem conhece ou não um método correto. Nós não acusamos Joana Salém Vasconcelos de não entender qualquer método, apenas divergimos de sua opinião quanto ao bloqueio. Sua posição política é que está errada e nós afirmamos isto não porque não temos capacidade de entender os seus argumentos ou não temos competência teórica.
Como já dissemos, é preciso entender Cuba como uma zona crítica, e não é proveitoso analisá-la isolando os fatores internos dos externos, pelo simples fato de que eles não operam separados. Mais uma vez, não é como se defendêssemos a unidimensionalidade das explicações históricas, afinal, não negamos a importância da queda do turismo, da escassez de produtos etc, como elementos da crise, mas sim que esses componentes só têm o peso que têm na realidade cubana – e, em alguns casos, como a escassez, só existem – porque esta se encontra atravessada por um bloqueio criminoso. É justamente isso que significa considerar o bloqueio como dado estrutural da crise. E é dentro deste contexto que julgamos o protesto.
O cerne da crítica da autora diz respeito ao substantivo “povo” e ao adjetivo “popular”. Ambos têm clara conotação positiva na história das esquerdas. O fascismo pode ser “popular” a depender da acepção da palavra, mas não daremos a ele nenhuma conotação positiva. No limite, é uma escolha política dizer que a contrarrevolução é popular ou não.
Como na Revolução Francesa ou Russa, popular foi a parte ativa do povo concreto que se engajou na luta, ainda que houvesse indivíduos “do povo” conservadores. Nossa insistência é sobre classes sociais e não indivíduos. Quanto a dizer que defendemos um povo homogêneo e que portamos “um perigoso gérmen de autoritarismo” em nosso “raciocínio”, só podemos lamentar a linguagem que Salém toma de empréstimo da Patologia.
A esse respeito a autora cita Diaz-Canel sobre “pessoas revolucionárias que podem estar confusas”. Não esperávamos que ele dissesse o contrário numa situação em que pretende dividir os seus adversários e retirar-lhes a legitimidade, trazendo as “revolucionárias” para o seu lado.
Entre as massas fascistas havia “pessoas revolucionárias” que podiam estar “confusas”. E havia base objetiva para a “raiva popular” em 1933. Em junho de 2013 no Brasil, após o controle midiático das manifestações, setores de esquerda continuaram defendendo a participação nos atos em que talvez houvesse “pessoas revolucionárias” que podiam “estar confusas”; depois, apoiaram a operação Lava Jato e o seu caráter “popular”. Os que lembravam interesses imperialistas eram considerados defensores de uma teoria conspiratória.
No final do nosso artigo citamos o ministro das relações exteriores de Cuba que trata a disputa econômica como uma guerra. Esse é um tema ausente de nosso debate. Cuba é um país numa zona crítica conflagrada. Numa guerra podem existir muitos lados: interesses dos governos de cada país, posições distintas dos aliados de um mesmo bloco, as classes sociais etc. No entanto, numa batalha, no exato teatro de operações, só existem dois lados. O momento militar é inseparável do político.
Isso explica as posições de setores de esquerda que apoiaram protestos contra governos progressistas, nacionalistas ou até conservadores que estavam em confronto com os EUA, a ponto de considerarem uma aliança da Otan e do “povo” contra o governo da Líbia anos atrás. Protestar contra um governo em guerra serve para fragilizá-lo. As revoltas na Hungria, Tchecoslováquia, o Sindicato Solidariedade e as transformações de 1989 receberam o aplauso esperançoso de muitos intelectuais de esquerda, mas a mera presença de trotskistas no teatro de Praga não impediu que ele fosse um quartel general do retrocesso e não do avanço do socialismo. E no entanto, eram revoltas “populares” para toda a imprensa ocidental.
Continuamos a defender “Cuba como uma zona crítica, de tensão constante entre forças extremamente desiguais econômica e militarmente”. E numa situação de guerra continuamos a dizer que o diálogo por parte do governo com os que organizaram os protestos (com quem seria?) não nos parece uma boa ideia. Não tem nada a ver com um suposto “perigoso gérmen de autoritarismo” em nosso raciocínio, mas sim com nossa percepção da gravidade da situação do embargo e dos ataques contrarrevolucionários que Cuba enfrenta e que tem se fortalecido nos últimos anos, e a estratégia de apoio internacional que defendemos a partir disso.
Para Salém, “Alice e Lincoln desconsideram a data do meu artigo ao apontar que não dei atenção às convocatórias governamentais massivas. (…) Esse ponto da crítica feriu a cronologia e incorreu no pecado capital dos historiadores: o anacronismo”[iii]. Obviamente, não exigimos dela que conhecesse o que aconteceu depois; usamos o que aconteceu para fortalecer o nosso argumento. Mas ficamos com uma dúvida: se isso a levou a nos explicar que se trata de algo anacrônico, é porque as manifestações pró-governo mudaram a sua opinião? Caso contrário, não há razão para denunciar o “pecado” do anacronismo, salvo para questionar nossa competência acadêmica ou nossa fé em Lucien Febvre.
Se aceitássemos essa condenação não poderíamos comentar a decisão de ninguém mais na História, afinal Napoleão não sabia que perderia sua Grande Armée na campanha russa de 1812, nem os comunistas sabiam que Hitler assumiria o poder. No entanto, os comunistas alemães foram criticados depois por terem subestimado o perigo nazista. Anacronismo não é mero erro cronológico e sim a operação de atribuir a indivíduos de uma época valores, ideias, conceitos, formas de consciência e linguagem de uma outra. Ainda assim, os e as historiadoras sabem que certo grau de anacronismo é inevitável porque não estudamos o passado de forma direta.
A partir disso, como deveríamos considerar a informação da nossa interlocutora de que o governo chinês foi solidário a Cuba em função dos acontecimentos de julho de 2021 se a fonte citada é de 2014? Poderíamos tratá-la como um anacronismo, mas seria algo muito sofisticado neste caso. Joana Salém simplesmente não leu a própria fonte que ela utilizou.
Depois de dizer que uma determinada “premissa é consensual em todo universo do pensamento crítico, incluindo minhas pesquisas e publicações”, a autora acrescenta que suas obras “foram claramente desconsideradas pelos autores para tal conclusão”.
Ficamos desconcertados com essa frase. Não ignoramos a produção da autora, contudo não poderíamos ler todas as obras de todos os articulistas com quem dialogamos. Para iniciar nossa crítica teríamos que ser como Funes, o memorioso (de Borges) e lembrar o conteúdo de cada livro, cada capítulo, cada frase, cada linha que o autor escreveu antes; evocar os contextos, os interlocutores, as orientações teóricas de cada um, a documentação consultada e a não consultada, as interpretações dos documentos… Nosso objetivo era mais modesto: comentar apenas o artigo que ela escreveu e deixamos isso bem claro em nosso texto.
O tom do artigo de Salém é professoral e se baseia no discurso da competência. Para ela, nós não temos argumentos problemáticos ou discutíveis e sim uma leitura simplificadora, stalinista, anacrônica, com erro grave, com falta de leitura (que ela “generosamente” nos indica), incompreensão, germens autoritários etc. São os termos que ela utiliza.
Nós mobilizamos argumentos em torno do seu texto e não da sua capacidade intelectual. A estima permanece. O debate político continua em outros momentos e lugares.
*Alice Rossi é graduanda em história na USP.
*Lincoln Secco é professor de história contemporânea na USP.
Publicado originalmente no Boletim Maria Antônia, ano II no. 25.
Notas
[i] Para mais informações sobre o conteúdo da polêmica sugerimos a leitura da entrevista de Luiz Bernardo Pericás sobre os protestos, o impacto do bloqueio norte-americano e a situação econômica de Cuba: https://revistaopera.com.br/2021/08/02/luiz-bernardo-pericas-casa-branca-sonha-que-cuba-volte-a-ser-um-apendice-dos-eua/.
[ii]https://gmarx.fflch.usp.br/boletim-ano-2-24-dossie-cuba.
[iii]No artigo escrevemos: “se os protestos contra o governo, que tinham no máximo 20.000 participantes, são qualificados como “populares”, a manifestação a favor do governo, que só em Havana contou com cerca de 100.000 pessoas, também deveria ser reconhecida como tal”.