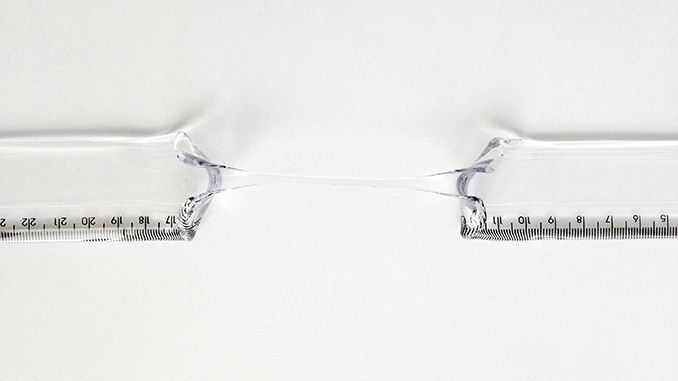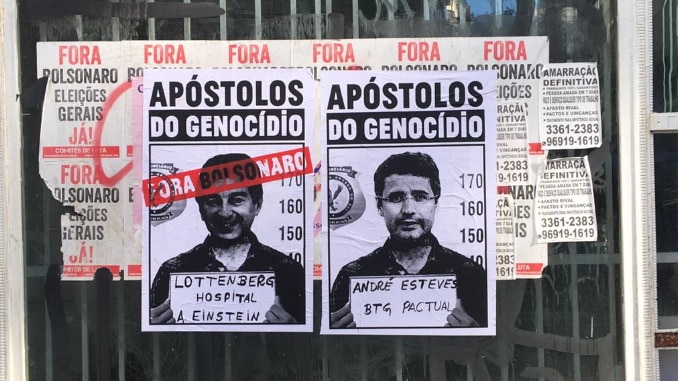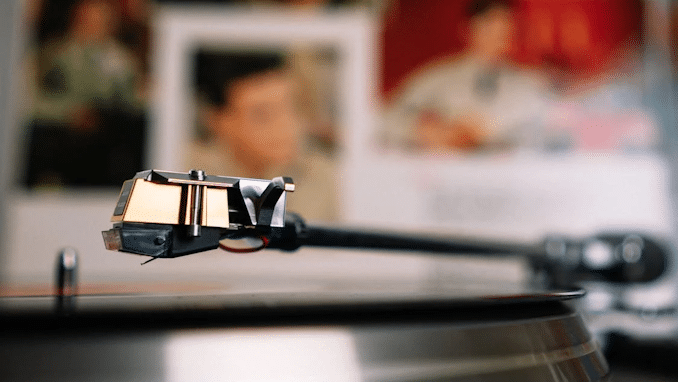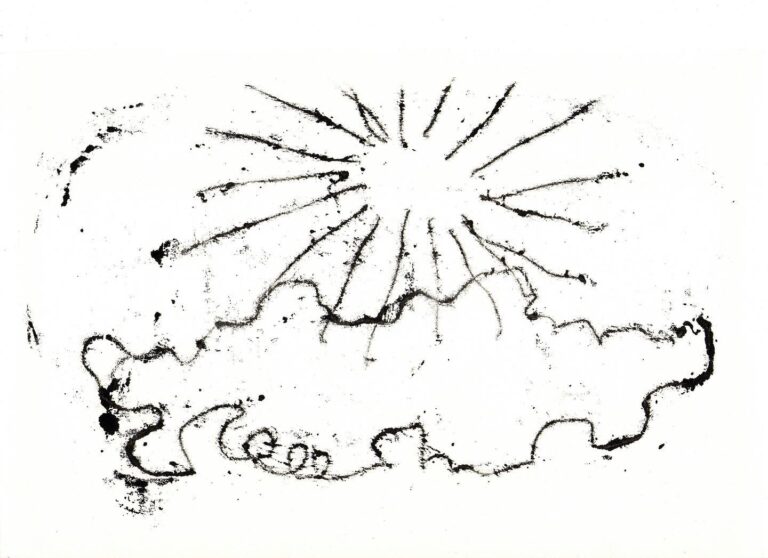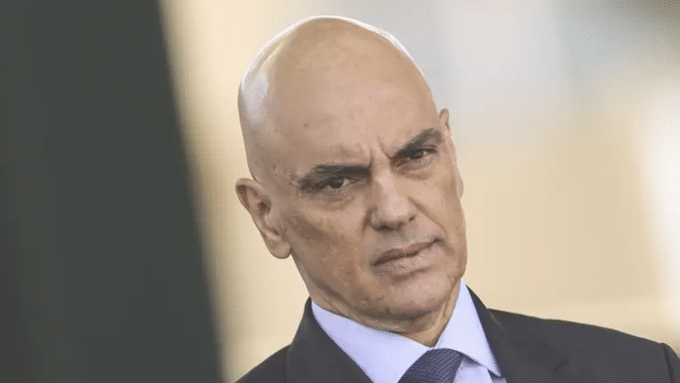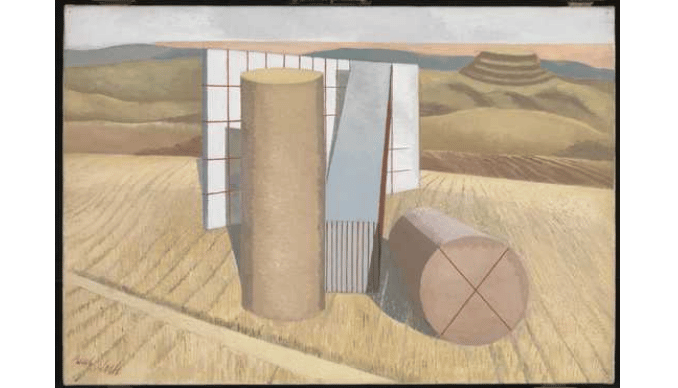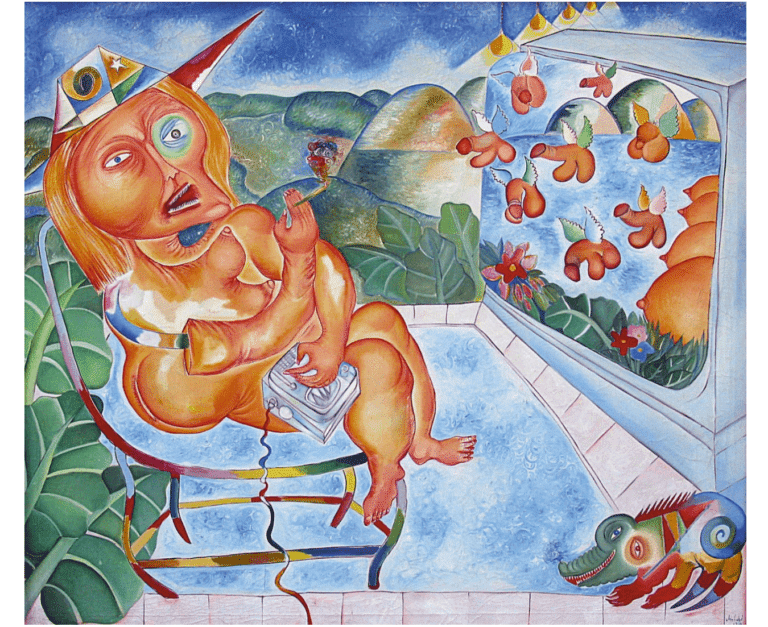Por LUIZ COSTA LIMA*
Introdução do livro recém-lançado
Crise ou drástica mudança? Análise de um caso
Na década de 1930, a literatura brasileira conheceu a irrupção do romance nordestino, por uns interpretado como reação à manifestação do modernista, para outros, como a sua concreção. Ao passo que o Modernismo paulista oscilava ambiguamente entre o experimentalismo de um Oswald de Andrade e a busca por raízes da nacionalidade, estimulada por seu prócer mais influente, Mário de Andrade, o romance nordestino tanto poderia ser tomado como efetivação modernista quanto como reação. O olhar histórico nos encaminha para a resposta adequada: a importância que o regionalismo estimulado por Gilberto Freyre terá para um José Lins do Rego conduz à solução correta: o romance regionalista se antepunha ao Modernismo sulista.
Vinculado aos modos perversos da exploração da terra, pela imensa desigualdade social que o latifúndio, o engenho de açúcar e, depois, a usina alimentam, o regionalismo passou a ser conhecido, nas histórias da literatura nacional, como de caráter nitidamente neorrealista.
Dele faziam parte autores que, em alguns casos, permaneceram conhecidos apenas por suas obras de estreia. É o que sucede com José América de Almeida, com A bagaceira (1928); Rachel de Queiroz, com O quinze (1930); e Amando Fontes, com Os corumbas (1933). A estes se acrescentavam nomes que continuaram a publicar por toda a vida – José Lins do Rego e Jorge Amado, estreantes em 1932, respectivamente com Menino de engenho e País do carnaval.
O ciclo será completado por Graciliano Ramos, de produção numericamente modesta – à sua obra estritamente novelesca (Caetés [1933], São Bernardo [1934], Angústia [1935], Vidas secas [1938]), acrescentar-se-iam o livro de contos Insônia (1947); suas primeiras memórias, Infância (1945); e as terríveis recordações de sua prisão como comunista – o que então não era –, durante o Estado Novo varguista, nas Memórias do cárcere (quatro volumes, 1953). Mesmo que se acrescentem a reunião de crônicas, com destaque para o póstumo Vivente das Alagoas (1962), e os relatos infantis (Alexandre e outros heróis, 1962), a obra de Graciliano se diferencia da produção dos romancistas mais prolíficos de sua geração, José Lins e Jorge Amado, seja por não se diluir progressivamente, seja por não se entregar ao gosto do mercado. De todo modo, tais critérios ainda são demasiado rasteiros para fixar sua imensa singularidade.
Não se poderia negar a vinculação nordestina quer de sua prosa ficcional, quer de suas primeiras memórias. Sua base nordestina só se estenderá por outras regiões a partir da macabra experiência no porão do navio que o transporta, junto com outros presos políticos, para o Rio de Janeiro, e os consequentes anos de cárcere que sofre, sem direito a um processo judicial. A prisão na ilha Grande só cessa pela interferência de amigos influentes, como José Lins, e a ajuda desinteressada de uma figura humana da grandeza do advogado Sobral Pinto.
Se não se pretende recusar o indiscutível, importa pensar se sua obra concentra-se no “raio realista” de seus companheiros de região. Para fazê-lo, convém antes estabelecer o que se entende por raio realista. Vale então recordar a distinção que György Lukács estabelecia, a partir do romance francês do século XIX e estendia à prosa a ele contemporânea, entre Realismo e Naturalismo. O Realismo correspondia ao romance exemplar, tendo seu clássico em Balzac, porque apresentaria a estrutura socioeconômica da conjuntura histórica representada no enredo, ao passo que o Naturalismo, primeiramente tipificado por Émile Zola, se contentava com seus traços de superfície.
Nos seus próprios termos: (Realismo e Naturalismo supõem) “a presença ou ausência de uma hierarquia entre os traços próprios aos personagens representados e as situações em que se acham postos esses personagens. […] É secundário que o princípio comum de todo Naturalismo, ou seja, a ausência de seleção, a recusa da hierarquização, apresente-se como submissão ao meio (primeiro Naturalismo), como atmosfera (Naturalismo tardio, Impressionismo, também o Simbolismo), como montagem de fragmentos da realidade efetiva, em estado bruto (Neorrealismo), como corrente associativa (Surrealismo) etc.” (Lukács, 1960, p.61).
Apesar da enorme extensão temporal dada ao par antagônico, nenhum dos dois termos cabe univocamente a Graciliano Ramos. Qual o motivo da negação? Não era pelo nome de realista que ele tem sido conhecido entre seus companheiros de geração e como continua a ser ensinado? E a denominação “realismo” não é ainda hoje considerada por muitos críticos como elogiosa, porquanto adequada à concepção que se fazem da própria literatura?
Em favor da agilidade argumentativa, recordemos a cena capital de seu romance de estreia. Como seu título insinua, o protagonista, João Valério, se propõe a compor um romance histórico, que teria por base os índios caetés, os habitantes originais do atual estado de Alagoas. Mas a distância entre os modos de vida de um modesto funcionário de uma cidadezinha interiorana e do que teria sido próprio dos indígenas, já então dizimados, leva a proposta de romance histórico ao fracasso. Em meu livro de estreia, Por que literatura (1966), interpretava o fracasso do personagem como a encenação irônico-zombeteira por Graciliano Ramos do que se fizera, entre nós, com Gonçalves Dias e José de Alencar: a formulação literária de uma fantasia indigenista.
Embora a hipótese não fosse absurda, outra bastante diversa me veio à cabeça ao reler, há poucos anos, Memórias do cárcere. Descrevendo as atrocidades que via serem cometidas ou que lhe contavam, Graciliano Ramos observava que, para infelicidade sua, era escritor em um país em que “essas coisas – as cenas expostas nos romances – eram vistas com atenção por uma pequena minoria de sujeitos mais ou menos instruídos “que buscavam nas obras de arte apenas o documento” (Ramos, 1953b, p.132-3).[1]
Em absoluta dissonância com o costumeiro entre nós, tanto antes quanto depois e até o momento presente, Graciliano dava espaço para a reflexão teórica. Ao explicar o Realismo como uma das infelicidades que assolam o país, em que seu mínimo público confunde literatura com “documento”, o romancista alagoano discrepava de seus colegas e dava a entender que o desfecho de Caetés culminava o propósito irônico que o presidira. (O que não significa que esse propósito fosse mais do que uma leitura a posteriori.)
A interpretação que então dera a Caetés se invertia por completo: que miséria pior à deste país em que os poucos mais ou menos instruídos só veem na obra de arte o documento, o traço do que perdura? E o que teriam sido Os timbiras, O guarani e Iracema senão tentativas de documentar, por certo imaginativamente, a vida das populações primitivas do país e/ou sua aproximação com o branco conquistador? Já, portanto, em seu primeiro romance, por certo ainda distante da qualidade de sua ficção realizada, Graciliano intuía haver algo bastante errado na apreciação literária vigente em seu país. Mas, contra essa segunda leitura, não era precisamente o documento que aparecia, para um crítico contemporâneo afamado como Lukács, como característica da obra realista?
Seja assinalado, contudo, que se tratava do Lukács já integrado ao marxismo stalinista – não mais o de A alma e as formas e da Teoria do romance –, que só concebia a literatura como retrato de certa situação sócio-histórica. E em que a valorização do documento diferiria do critério mais recente que louva a obra como “testemunho” de uma desastrosa situação social?[2] Seria irrelevante se se acrescentasse que a diferença estaria no fato de o louvor do documento supor o respaldo de uma teorização de coloração marxista, o que, dada a influência mediática, não mais sucede no realce do testemunho ou, em seu extremo, nos identitarismos. Ora, como Graciliano Ramos foi reconhecido como um escritor realista, do ponto de vista da história literária, a leitura correta seria a primeira de Caetés. Era ainda como documento que se deveria continuar a ler São Bernardo.
Por sorte dos leitores de Graciliano Ramos, a interpretação grosseira foi superada pela leitura que Abel Barros Baptista fez de São Bernardo. De seu estudo exemplar, destaco duas passagens capitais. Na primeira, é ressaltada a excelência do capítulo 19. Paulo Honório e Madalena tinham se casado havia pouco. Como assinala o crítico português, o pequeno intervalo entre a cena do casamento e o capítulo destacado, bem como ser o livro escrito a posteriori, é indicativo de que a felicidade durara bem pouco. Sentia-se Paulo Honório não só agredido pelas disposições progressistas assumidas por Madalena, como tomado de ciúme dos que dela se aproximavam.
A composição do capítulo não permite, contudo, que o romance assuma a forma de recordação, o que, de acordo com os moldes realistas, deveria suceder. Já a leitura atenta da abertura expõe sua discordância: “Conheci que Madalena era boa em demasia, mas não conheci tudo de uma vez. Ela se revelou pouco a pouco, e nunca se revelou inteiramente. A culpa foi minha, ou antes, a culpa foi desta vida agreste, que me deu uma alma agreste. – E, falando assim, compreendo que perco o tempo. Com efeito, se me escapa o retrato moral de minha mulher, para que serve esta narrativa? Para nada, mas sou forçado a escrever.” (Ramos, 2012 [1934], cap. XIX, p.117).
As brigas contínuas, o suicídio de Madalena, a separação então dolorosa, tudo isso já se dera. No entanto, o segundo parágrafo aparece com verbos no presente, a terminarem com a cláusula “sou forçado a escrever”. “Forçado por quê? Qual a força que o impele ou obriga a escrever? […] Forçado a escrever mesmo sabendo de antemão que nunca atingirá o retrato moral de Madalena, ou forçado a escrever para o procurar, sem critério viável para aferir o êxito da busca?”, pergunta-se o brilhante crítico (Baptista, 2005, p.111-2). E o capítulo prossegue com a observação da alternância dos tempos verbais: “Lá fora os sapos arengavam, o vento gemia, as árvores do pomar tornavam-se massas negras. – Casimiro!” (Ramos, 2012 [1934], p.118).
Com a entrada de Casimiro Lopes, os verbos passam para o presente. Mas a ação narrada decorre no presente ou no passado? […] Tudo se esclarece, então: os verbos no presente dão conta da presença do passado no presente (Baptista, 2005, p.113).
A frase, simples e incisiva, a mudança dos tempos verbais, são suficientes para assinalar a insuficiência da caracterização do relato como Realismo. Que testemunha a substituição do tempo verbal, o presente ocupando o lugar do passado, senão que a recordação não se confunde com o tempo da memória, pois o tempo que efetivamente aqui vigora é outro, o tempo da narrativa? A narrativa então admite a apreensão de matizes que escapam da memória. A memória está presa à percepção, ao passo que a narrativa ganha a interferência da imaginação. Por isso, sua condição de ficção faz com que a literatura não caiba no escaninho da memória do vivido.
A segunda passagem que destaco completa o desmonte do Realismo. Até aqui ainda podíamos entender o ciúme como decorrência da diferença dos níveis de cultura do casal. Mais precisamente, do “sentimento de propriedade” do marido, o macho sertanejo. Sem se referir a um momento específico do relato senão a seu todo, escreve o crítico: “O ciúme não é variante da desconfiança ou do sentimento de propriedade imputáveis à profissão, mas uma paixão que não depende delas, que até as contraria, e que radicalmente se liga ao sentimento amoroso, que já levara Paulo Honório a fazer algo diverso do que projetara…” (Ibid., p.125).
O que equivale a dizer: o ciúme não se encaixa em uma cadeia causal que efetuaria o transporte para o plano da linguagem do que já se dera na sociedade; se essa é a matéria-prima do romance, sua percepção não basta para o plano da linguagem. O ciúme nos lança a outro plano, que não se confunde com o da mera transmissão da realidade. Por isso São Bernardo, como toda ficção de qualidade, não se restringe a ser documento ou testemunho de algo que já antes dele existia. A literatura não é repetição, reiteração, imitatio, que os séculos não se cansaram de repetir, mas, sim, ficção, de cujo entendimento é costumeiro escapar-se.
Até este momento, demos a entender que o ensaio de Abel Barros Baptista estabeleceu o dique saudável contra a interpretação habitual de Graciliano Ramos. A seguir, procuro mostrar que, sendo correta, essa ainda é uma compreensão parcial. Para mostrá-la, recorro a umas mínimas passagens que Antonio Candido já havia dedicado a Vidas secas.
A primeira ressalta a singularidade do escritor alagoano entre seus companheiros “regionalistas”. Para fazê-lo, Antonio Candido recorda a formulação de Aurélio Buarque de Holanda: “Cada uma das obras de Graciliano Ramos (é) um tipo diferente de romance” (apud Candido, 1992 [1956], p.102). (É pouco, mas já é alguma coisa.) E daí parte para refletir sobre Vidas secas. Aproveitando agora uma observação de Lúcia Miguel Pereira, Antonio Candido acentuava “a força de Graciliano ao construir um discurso poderoso a partir de personagens quase incapazes de falar, dada à rusticidade extrema, para os quais o narrador elabora uma linguagem virtual a partir do silêncio” (ibid., p.104-5).
Na verdade, no caráter sumário de toda a curtíssima narrativa, a falta de palavras é a regra absoluta. O tratamento da falta, no entanto, apresenta uma diferença básica: se o proprietário da fazenda abandonada, a que chegam os retirantes, Fabiano, sua família e a cachorrinha Baleia, não tem do que reclamar, nem por isso deixa de gritar e dar ordens. O que ele tem a dizer é nada, pois Fabiano é um vaqueiro exemplar. Mas os desaforos são a linguagem apropriada do dono da terra. Do mesmo modo, se o Soldadinho amarelo e a guarnição a que pertence têm poucas palavras em reação ao “desacato à autoridade” de que acusam Fabiano, em troca as pancadas com que malham suas costas e a prisão a que o recolhem constituem a linguagem da autoridade. Portanto, ainda que sejam escassas suas palavras, o senhor das terras e as autoridades policiais não precisam de muitas. A semiologia brutal do mando as substitui.
Em troca, que palavras tem Fabiano para responder ao pedido de sinhá Vitória de uma cama razoavelmente decente? Ou que palavras tem a mulher para as perguntas dos dois pequenos filhos? Como o mais velho podia expressar a admiração pelo pai em sua plena roupagem de vaqueiro senão tentando cavalgar o bode velho? A família de Fabiano, em suma, está reduzida a umas mínimas palavras, das quais se ausentam sinais de mando. A linguagem do proprietário e dos migrantes necessariamente não se diferencia em termos de quantidade, pois também o proprietário pode lançar mão de poucas palavras, mas a entonação e o volume com que são ditas bastam para distinguir seu uso.
O silêncio que habita o humano sem posses prolonga-se até à cachorrinha Baleia e nela alcança seu auge. A ausência de palavras na cena de sua morte é um dos maiores capítulos da literatura brasileira. Por temer que os sinais da doença que nela se manifestam indiquem que ela esteja hidrofóbica, Fabiano, para impedir que os filhos sejam contagiados, a persegue até matá-la.
Mas o tiro que dispara não é de imediato mortal; entre surpresa e espantada, a cachorrinha se arrasta. O capítulo “Baleia” é formado quase que inteiramente pela lenta agonia do animal. Baleia procura fugir, se esconder ou escapar dos sinais da morte que se avizinha; em todos os casos, sua linguagem é a do silêncio.
Podemos mesmo estabelecer, do ponto de vista de disponibilidade de linguagem, uma hierarquia entre os personagens. Para o fazendeiro e os policiais, poucas palavras são suficientes, pois sob a forma de gritos e pancadas, os sinais de mando são numerosos. Para Fabiano e sua família, a espoliação, a falta, a fuga (da seca e, sempre que possível, dos outros homens) dão lugar ao resmungo aflito ou raivoso, com que falam o silêncio. Para Baleia, enquanto esteve saudável, o silêncio tinha o cheiro dos preás – que, caçados por ela, diminuíam a fome dos retirantes – ou se exprimia nas brincadeiras em que se envolvia com as crianças. À medida que a morte dela se aproximou, o silêncio passou a se confundir com o crescente negror a seu redor, com a fantasia que nela crescia, antes que os urubus viessem a bicar seus olhos mortos. O silêncio continua a ser sua fala, mesmo quando já não pode mais falar: “Baleia queria dormir. Acordaria feliz, num mundo cheio de preás” (Ramos, 1953a [1938], p.109).
Em suma, se houve um tempo em que a crítica considerava inconteste a presença do Realismo em Graciliano Ramos, a abordagem de Abel Barros Baptista nos permitiu ver que já antes, em Antonio Candido e naqueles que cita, se denotava a saída possível do que impingia a nosso romancista. Foi então possível olhar para atrás e verificar que, em vez de um bloco maciço, a crítica anterior já mostrava vias contrárias ao que a tradição postulava. Apenas considerando São Bernardo e Vidas secas, a compreensão do significado do ciúme de Paulo Honório e o silêncio que acompanha a vida e a morte de Baleia são os polos dentro dos quais a suposta unicidade do Realismo de Graciliano é carcomida; em troca, passamos a ter condições de apreciar a singularidade com que sua obra se realizava.
O paradigma em questão
Queiramos ou não, as apreciações mudam e, muitas vezes, provocam valorações antagônicas. Diga-o o Barroco. Menosprezado por séculos, sua reapreciação só passou a se dar a partir das primeiras décadas do século XX.
Não se cogita que algo semelhante esteja se dando quanto a Graciliano Ramos ou a qualquer outro autor brasileiro. Nosso sistema intelectual é extremamente refratário a quaisquer mudanças, como se elas comprometessem a dignidade de seus representantes. Apesar da alegada resistência, contudo, como mostra o exame anteriormente empreendido, a obra de Graciliano Ramos “corre o risco” de ser estimada por um modo contrário ao que, fixado ainda durante sua vida, permanece por certo dominante. Mudança fundada em quê? Na apreciação do que se entende por Realismo. Perguntemo-nos, pois, sobre a história e os fundamentos do critério. A apreciação será intencionalmente bastante terra a terra.
O primeiro registro nominal do termo é de 1826 e surge no jornal parisiense Le Mercure Français. Para o jornalista que o emprega, por Realismo entende-se uma “doutrina literária que conduziria à imitação não de obras-primas da arte, mas dos originais que a natureza nos oferece” (apud Hemmings, 1978, p.5). A definição proposta permite que reconheçamos por resultado de sua prática o que oferecia o romance inglês do século XVIII.
Ressalte-se na definição o termo “imitação”, que contém a pedra de toque do conceito. Mas não pensemos que o autor tivesse encontrado por si a chave do tesouro. É verdade que o termo mesmo não é empregado pelo famoso Dr. Johnson. Se ele, de fato, falta em sua caracterização de 1750, os ingredientes de sua fórmula já estão bem explícitos: “As obras ficcionais com as quais a presente geração parece mais particularmente deliciar- -se são aquelas que exibem a vida em seu verdadeiro estado, apenas diversificado pelos acidentes que diariamente sucedem no mundo e influenciado pelas paixões e qualidades realmente encontradas no contato com a natureza” (ibid., p.11-2).
Não é preciso esforço para compreender-se que ao colaborador do jornal francês coube o privilégio de encontrar le mot juste que se julgava haver na relação entre o que a vida mostra in its true state e o que a obra pictórica ou literária expõe.
Por conseguinte, a fortuna do Realismo na arte já se afirma na Inglaterra do século XVIII, conquanto sua definição indiscutível caiba à primeira metade do século XIX, vindo a encontrar sua máxima expressão ao longo do século. Centrando-se inicialmente na Inglaterra e na França, e no gênero que, desde então, é o ápice da forma literária, o romance, o prestígio do Realismo é contemporâneo à expansão primeira do capitalismo industrial e dos meios de comunicação (a estrada de ferro e o telegrama sem fio).
Nenhuma estranheza que se tenha difundido a partir das duas nações europeias então mais desenvolvidas e que daí seu prestígio tenha se estendido à Rússia, à Alemanha, à Itália, aos países ibéricos e, a partir destes, às suas ex-colônias sul-americanas. Apenas se assinale que a reação ao Realismo partirá de escritores da qualidade de Henry James, Virginia Woolf e James Joyce.
Não será preciso nos demorarmos na catalogação de nomes e detalhes há muito divulgados em manuais como o de Hemmings. Para verificá-lo, será suficiente a consulta a um erudito amante de banalidades como foi René Wellek. Ainda em momento de glória, formulava como a meta do romance realista do Oitocentos “a representação objetiva da realidade contemporânea” (Wellek, 1963, p.240-1). René Wellek sente a obrigação de ir além do que já deveria ter lido em inúmeras ocasiões e de acrescentar que a “representação objetiva da realidade” implicava, por parte do romancista, a rejeição do “fantástico, do fantasioso, do alegórico, do simbólico, do extremamente estilizado, do pensamento abstrato e do decorativo” (ibid., p.241).
Em síntese, todas essas recusas significam “que não queremos mitos, relatos fantásticos (Märchen), o mundo dos sonhos” (ibid.). Noutras palavras, o padrão a ser seguido deveria ser estritamente a imitação da natureza e da engrenagem da sociedade. Assim, e só assim, a literatura seria um divertimento sério e recomendável. (A leitura dos oito volumes de sua History of Modern Criticism poderá ser tediosa, sem que por isso perca a utilidade, entre outras, de mostrar as variantes com que se tem mantido o conceito latino de “imitativo”).
A descrição do que haveria de se entender por Realismo fora tão unânime que sua caracterização histórica não poderia diferir em enciclopédias recentes, cujo refinamento se revela ou pela observação de detalhes que passavam despercebidos, ou pelo destaque de discrepâncias que temporalmente se manifestaram. Assim, no verbete realism da Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics, lê-se que o termo “designa um mundo artisticamente criado (‘fictício’ ou ‘ficcional’) […] baseado na concordância implícita entre leitor e escritor […] de que a realidade é constituída pela factualidade objetiva das leis naturais” (Greene et al., 2012, p.1148).
Acentuando a concordância entre leitores e autores e a afirmação de que a realidade decorre da factualidade das leis naturais, explicitam-se as condicionantes do que se entendia como “imitação” e “representação objetiva” e que ambas eram tomadas como incontestáveis, mesmo porque seriam naturalmente dadas.
Editado um pouco antes, o não menos importante Dictionary of Cultural and Critical Theory tem a vantagem de acrescentar umas pequenas nuanças. No verbete classical realism, observa-se que a designação é usada sobretudo por críticos marxistas e pós-estruturalistas. As divergências importam porque têm repercussão contemporânea. Na orientação marxista, o autor, Christopher Norris, distingue entre a direção lukacsiana, para a qual a obra realista é ditada por “um potencial crítico emancipatório”, que a tornaria politicamente recomendável, ou seja, ideologicamente aceita, da vertente temporalmente posterior representada por Pierre Macherey e Terry Eagleton, que antes acentuam o fato de o Realismo expor um modo de “consciência falsa”, uma atenuação dos conflitos, só passíveis de serem notados por uma leitura “sintomal”. Já para o pós-estruturalismo de um Roland Barthes, a designação é “um mero artifício, uma astúcia pela qual o romance procura esconder ou repudiar os signos de sua produção cultural e, assim, mascarar a realidade que expõe” (Payne; Barbera, 2010, p.136).
As diferenças são decisivas para nosso propósito. Em primeiro lugar, na linha marxista mais recente, é afastada a euforia potencialmente propagandística da época stalinista, e o crítico se desvencilha da solidariedade, vigente ao longo dos séculos XVIII e XIX com o ideário dos autores realistas, em favor de uma visão potencialmente crítica, fundada na afirmação de que a imitação da vida “como ela é” não passa de uma ingenuidade ou de um engodo, no melhor dos casos, de um autoengodo. Essa potencialidade crítica se evidencia na linha barthesiana.
Quando, portanto, assinalávamos que a caracterização do Realismo continua genericamente ainda dominante não se declara que seus adeptos mantenham a crença de que a obra literária tivesse como qualidade básica oferecer um “retrato” da sociedade. Ou seja, o termo “imitação” deixa de estar entre as ferramentas definitórias do Realismo. Mas o fato de já não se falar em “imitação” não significa que o sentido implícito deixe de estar presente, embora de modo velado, entre os proponentes do Realismo. E isso mesmo porque se mantém a suposição de a obra ficcional, conquanto de maneira mais refinada, revelar como é a realidade social. Sucede apenas que tal pretensão passa a ser vista de modo indireto – “sintomal”, como Norris usa o termo de Althusser para definir o marxismo de autores posteriores à queda do império soviético.
Tal seria a distinção radical aberta pela posição de Barthes. Se de sua obra não se retira alguma outra propriedade do literário além da ênfase na construção da própria forma; se, portanto, afasta-se o literário do padrão realista, o não se desligar por completo do mesmo paradigma resulta de que à negação do perfil realista – “imitação”, apreensão do que a realidade é – não se segue algo mais propriamente definitivo. (Em si mesma, não combinada a outros vetores, a ênfase na forma se caracteriza negativamente: a forma literária se distingue da formulação comunicativa, do enunciado científico ou pragmático; acentua-se seu potencial de negação porque ele se restringe a dizer o que ela não é.) Pretendo com isso declarar: a negação do Realismo por um Barthes, mesmo porque evidente, ainda não é suficiente para contarmos com um caráter aceitável do que se entende por literatura.
Embora sumária, a exposição acima assinala o que caracterizou o paradigma realista em relação à obra literária e como, ora de maneira ainda velada, ora explícita, ele sofre uma reviravolta a partir da década de 1960. Tal reviravolta, no entanto, não afeta o enfoque básico a que a obra literária tem sido sujeita. Isto é, seja no sentido tradicional como o termo Realismo era empregado, vindo do dr. Johnson, passando por Wellek até Lukács e seus seguidores, ou mesmo por seus veementes negadores, como Roland Barthes, a base da reflexão da literatura tem se concentrado em variantes, explícitas ou sofisticadas, da verossimilhança aristotélica. No sentido tradicional e, entre nós, ainda majoritariamente entre críticos e professores de literatura, a obra realista é considerada verossímil porque retrata a realidade como ela é, seja por duplicá-la, seja por lhe dar uma organização que, enquanto tal, a sociedade mesma não é capaz de revelar. Já a proposta “sintomal” opta por uma orientação não explícita, mas se a obra é sintoma de algo é que este algo já estava presente na realidade social. Por isso ela continua verossímil.
A linha barthesiana melhor se definiria como le degré zero da verossimilhança. Dizemos que esta se mantém no grau zero porque o zero, em si, é um ponto neutro, anterior ao início de uma escala. E, à semelhança desta linha, definem-se as várias e distintas tentativas de caracterizar o ficcional literário. Falando de maneira bastante grosseira, acrescentaria que Barthes é sintomático de um período em que um paradigma, tendo entrado no ocaso, ainda não dispõe de algum outro. O que mais se aproxima de uma posição axial diversa é a estética do efeito de Wolfgang Iser, por cujo princípio a obra ficcional literária se caracteriza por ser uma estrutura com vazios, a serem suplementados pelo leitor. (Não é por acaso que comentadores de Aristóteles, a exemplo de Reinhart Koselleck, observem que a metafísica aristotélica negava a existência de vazios.)
O achado do principal que funda a história dos conceitos é por si relevante. A obra não é expressão de quem a fez até porque, entre o sujeito e o texto, há a linguagem. Diferentemente dos campos que participam do discurso científico, a obra literária, por excelência ficcional, tem por cláusula constitutiva o “como se”, como Hans Vaihinger estabelecia no começo do século XX, e Wolfgang Iser teve o mérito de, desvencilhando-o do cientificismo que o embaraçava, avançá-lo. Desse modo, através de uma obra que só foi prejudicada por seu autor morrer relativamente jovem, constituía-se o caminho para um novo paradigma. Muito mais do que em sua modalidade francesa, pela obra de Wolfgang Iser essa nova perspectiva se entreabriu.
A afirmação de que um novo paradigma não se configura senão pela complementação de várias e várias aproximações deverá nos dar ânimo para continuar a caminhada. A literatura dele precisa pelo atraso em que sua reflexão se manteve durante o século XIX. Poderia então concluir que temos, por um lado, os retardatários de um paradigma ultrapassado e, por outro, um enxame de propostas que cobrem pequenos círculos. Tendo em vista a ideia de complementação afirmada acima, acrescente-se um outro traço.
Havíamos caracterizado o paradigma realista e suas sequelas como fundados na verossimilhança. Vale então lembrar a formulação da Poética: “Os acontecimentos são possíveis conforme o verossímil ou o necessário” (Aristóteles, 2015, 1451b). Ao domínio de eikos (o verossímil), por que não pensar seriamente no oposto, anankè? As razões em contrário foram dadas pelo primeiro Romantismo alemão: verossímil e necessário eram as disposições pelas quais a mímesis aristotélica se atualizava. Ora, desde que Roma converteu a Grécia em colônia e absorveu seu legado intelectual, mímesis foi traduzida por imitatio. E assim se tem mantido por séculos.
Os românticos então ensinaram aos eruditos europeus que isso era uma blasfêmia para a expressividade do sujeito. Assim, ao sujeito já potencialmente autocentrado correspondeu o desprezo pelo suposto correspondente da mímesis, a imitatio. A expressividade romântica se afastava da imitatio ao considerá-la decorrente do privilégio da natureza. Com independência do Romantismo, o molde realista reatualizou a imitatio, tomando a arte como “afirmação das leis naturais da realidade”. O legado romântico manteve o privilégio do ego, considerando que sua expressão tem uma dupla face: ressalta a singularidade do autor e, através dele, a presença da sociedade.
Sem recorrer aos nomes dos pensadores responsáveis, porque isso requereria um espaço que não nos concedemos, a imitatio moderna tem por fonte o domínio do científico e não a configuração formal em que se fundava sua origem grega. Anankè, o necessário, continuou interditado, porque desconhecido, mesmo quando o suposto não questionamento da realidade natural ou social perdeu seu crédito.
Ora, quando Abel Baptista escreve que, em São Bernardo, a recordação de Madalena por Paulo Honório se dá com os “verbos no presente (que) dão conta do passado no presente”, o que faz ele senão alcançar a configuração formal decisiva para declarar o que se impunha ao proprietário saudoso e culpado pela morte da companheira incompreendida? A saudade e a culpa eram verossímeis, mas o emprego dos verbos no presente para dizer de uma cena passada é parte de um necessário impossível de ser negado pelo personagem Paulo Honório. A linguagem então corrige a memória. Aristóteles é reatualizado, com a exclusão de seu arsenal metafísico.
Com isso quero dizer: para irmos além da estaca zero ou de soluções incompletas, impõe-se repensar a categoria da mímesis. Por certo, não na tentativa de restabelecer o pensamento aristotélico, quando nada porque a cosmologia grega não poderia ser refeita em tempo de dimensões tão diferenciadas, senão por sua capacidade de servir de ponta de lança em ambiência tão distinta. Anankè então se torna um verdadeiro ponto de partida para um work in progress.
Não se discute que as dificuldades de levá-lo adiante são manifestas. Desde logo, porque as bases do pensamento ocidental têm se desenvolvido na Europa, e, ao menos até agora, o scholar europeu não está convencido de que deveria pôr em discussão o que seu mais brilhante Romantismo havia alijado, a indagação mesma da mímesis, considerando-a substituível pela expressão do sujeito criador. Em segundo lugar, porque à nefasta sinonímia entre mímesis e imitatio se acrescenta a imitatio motivada pelo capitalismo industrial, nas décadas mais recentes, provocadora do domínio mediático, e, pior ainda, por sua adoção pelo tristemente lembrado Realismo socialista.
Em terceiro, porque o desenvolvimento que o princípio da mímesis precisará receber depende de uma reflexão que opere dentro da linguagem, e esta se tornou objeto de uma ciência, a linguística, que, por seu próprio recorte científico, parece pouco apropriada a uma indagação que antes exigiria uma formatação tanto filosófica quanto transdisciplinar. Por isso, parece pouco propício considerar a linguística seu local de indagação privilegiado. (Não cabe aqui transpor essa dificuldade para o Mimesis: A representação da realidade na literatura ocidental [1945], de Auerbach. Essa é a grande obra que, modernamente, operacionalizou o termo grego, conquanto seu embasamento filológico, ainda distinto da abordagem linguística, não tenha imposto a seu autor a aproximação com a reflexão filosófica e transdisciplinar.) Desse modo, ele permaneceu filiado à concepção da literatura como imitatio.
Essas são as dificuldades que, vislumbradas, continuarão a ser trabalhadas.
*Luiz Costa Lima é Professor Emérito da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC/RJ) e crítico literário. Autor, entre outros livros, de O chão da mente: a pergunta pela ficção (Unesp). [https://amzn.to/3FpYW2F]
Referência
Luiz Costa Lima. O Brasil então e agora. São Paulo, Unesp, 2023, 314 págs. [https://amzn.to/3Q5aUn8]

Notas
[1] A anotação contida nas Memórias não deixa de ser problemática. A julgar por ela, não seria correta a afirmação do biógrafo de Graciliano: “Graciliano extrai da memória a sua matéria ficcional, resgatando tanto suas raízes existenciais quanto um conjunto de tradições e heranças místicas do Nordeste” (Moraes, 2013, p.214). Porém o que diz o biógrafo se ajusta às declarações mais frequentes do próprio romancista. Sem que possa comprová-lo, creio que a discrepância da passagem que destaco nas Memórias do cárcere era uma reação ante as normas rígidas do Realismo socialista praticada pelo Partido, a que Graciliano então já pertencia.
[2] Embora a fonte não declare claramente a data da afirmação, a frase de Rachel de Queiroz confirma a sinonímia: “O que fazíamos era romance-documento, romance-testemunho” (apud Moraes, 2013, p.75).
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA