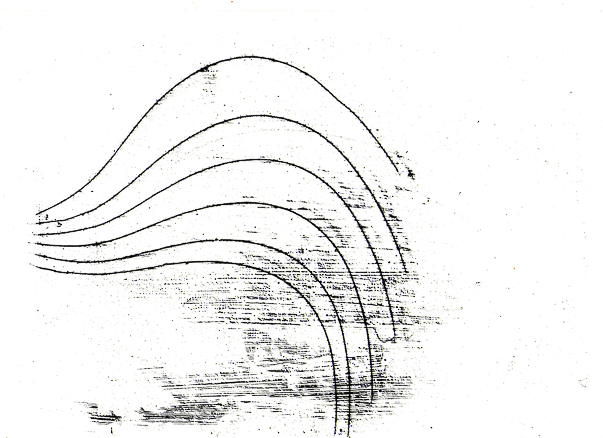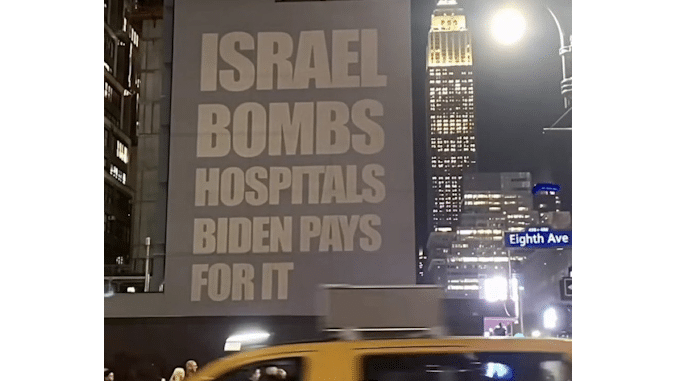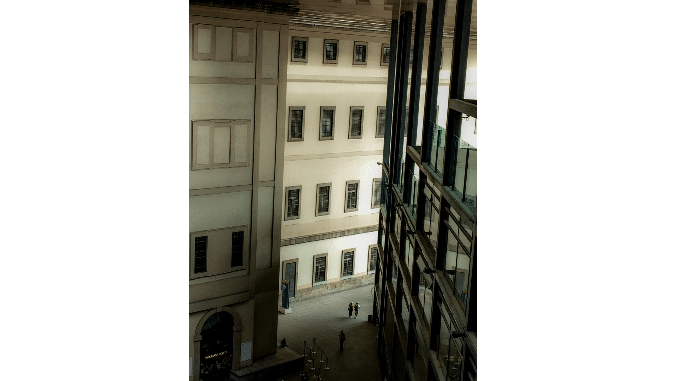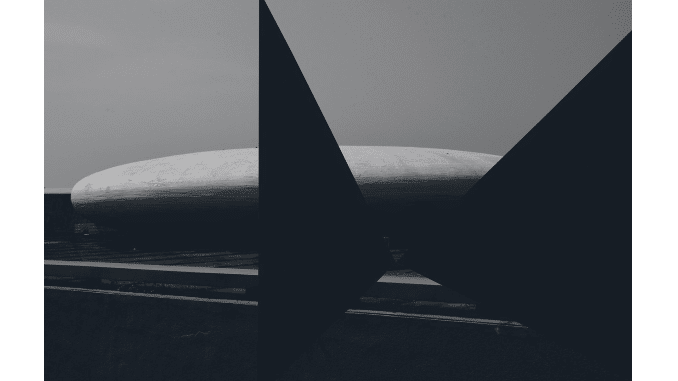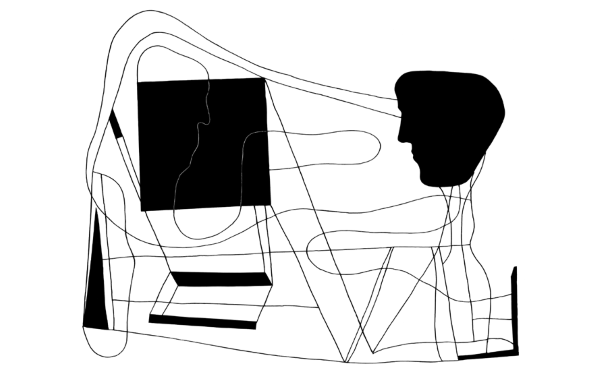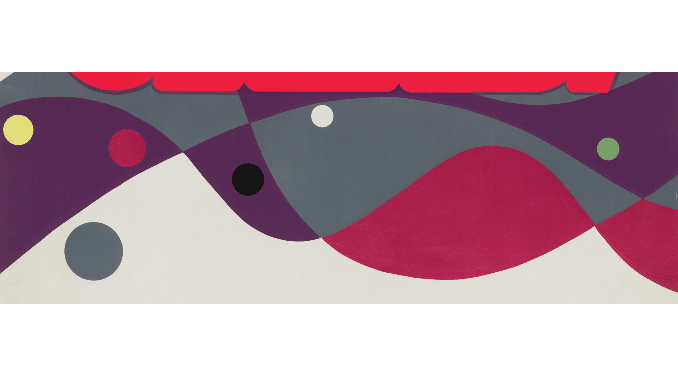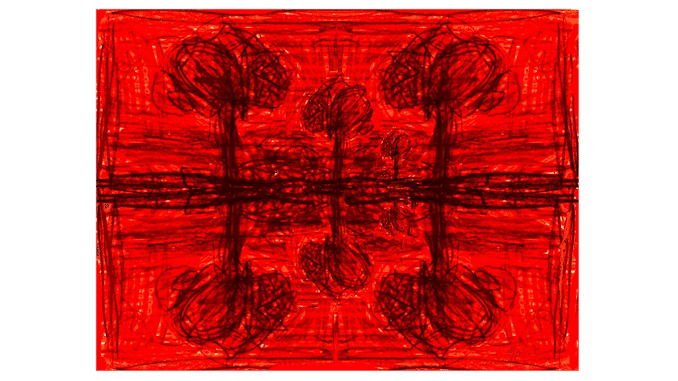Por José Geraldo Couto*
Comentário sobre o cineasta de O pagador de promessas
Quando se pensa em Anselmo Duarte (1920-2009), que faria cem anos no último dia 21, a primeira coisa que vem à mente, claro, é a Palma de Ouro que ele conquistou em Cannes com O pagador de promessas (https://www.youtube.com/watch?v=WLqFa-61tkM) em 1962. Mas sua importância para o cinema nacional vai além, e sua trajetória singular ajuda a iluminar boa parte da cultura brasileira do século XX.
Há lances romanescos, quase míticos, nessa jornada. A começar de seu primeiro contato com o cinema, em sua cidade natal, Salto, no interior de São Paulo. O irmão era projecionista e Anselmo, aos dez anos, ficava atrás da tela molhando-a de quando em quando para que não incendiasse – um risco real nas projeções daquela época. O procedimento é recriado no penúltimo filme que dirigiu, O crime do Zé Bigorna, de 1977.
Outro lance legendário é sua participação como figurante nas filmagens inacabadas de It’s all true, de Orson Welles, no Rio em 1942. Depois de uma passagem por São Paulo, onde trabalhou como datilógrafo e estudou economia, Anselmo tinha ido tentar a sorte na então capital do país. Esforçado, ambicioso e bonitão, estreou como ator na comédia romântica Querida Susana (1947), de Alberto Pieralisi, contracenando com Tônia Carrero.
Logo se tornaria o principal galã das chanchadas da Atlântida e, depois, dos melodramas da Vera Cruz. Foi nesses estúdios que fez seu aprendizado de um cinema narrativo clássico, tendendo para o acadêmico, que encontraria seu melhor momento no Pagador.
Ancorado num empolgante texto teatral de Dias Gomes, numa tarimbada equipe técnica oriunda da Vera Cruz (como o diretor de fotografia Chick Fowle) e num elenco privilegiado que incluía, além dos estreantes Leonardo Vilar e Glória Menezes, os jovens Othon Bastos, Norma Bengell, Geraldo del Rey e Antonio Pitanga, além do veterano Dionísio Azevedo, Anselmo encantou o mundo com um filme que falava de fé popular, intolerância e preconceito social, regado a capoeira, candomblé, sensualidade malemolente e a beleza do barroco baiano.
Não foi por falta de adversários fortes que o filme conquistou a Palma de Ouro. Naquele ano concorriam obras de Buñuel (O anjo exterminador), Antonioni (O eclipse), Robert Bresson (O processo de Joana d’Arc), Cacoyannis (Electra), Agnès Varda (Cléo das 5 às 7), Sidney Lumet (Longa jornada noite adentro) e Jack Clayton (Os inocentes), entre outros.
Rixa com o Cinema Novo
O pagador conquistou dezenas de prêmios mundo afora e foi indicado ao Oscar de filme estrangeiro (perdeu para Sempre aos domingos, de Serge Bourguignon). Mas foi mesmo a Palma de Ouro que despertou o despeito, a ira e a maledicência dos membros do então florescente cinema novo brasileiro. Anselmo representava, aos olhos dos cinemanovistas, tudo aquilo que eles queriam suplantar para criar um cinema revolucionário. Oriundo da chanchada e da Vera Cruz, era tido, na melhor hipótese, como um simplório, e na pior, como um oportunista. Fazia, diziam, um cinema acadêmico que vendia “cor local” para gringo ver.
Embora sempre tenha dito que não estava interessado nos louros da crítica e que seu objetivo era entreter e emocionar o público, o fato é que essa rejeição por parte da intelligentsia brasileira, em especial da patota do cinema novo, foi uma mágoa que Anselmo carregou até a morte. Numa entrevista que me concedeu em 1997, antes de partir para Cannes, onde participaria das comemorações da 50ª edição do festival, o ator e diretor falou um pouco desse seu sentimento, e contou alguns detalhes saborosos de sua participação como jurado do evento, em 1971.
Um episódio que ficou fora da entrevista por falta de espaço foi a desastrada tentativa do produtor do Pagador, Oswaldo Massaini, de fazer um agrado a François Truffaut, então presidente do júri. Anselmo e Massaini estavam jantando num restaurante de Cannes quando avistaram Truffaut, algumas mesas adiante. Massaini teve uma ideia que julgou brilhante. Trazia consigo um LP de música brasileira e resolveu presenteá-lo ao diretor francês. “Fiquei na mesa, olhando de longe”, rememorou Anselmo. “Ao ser abordado, Truffaut se levantou indignado, jogou o disco no chão, e passou um sermão no Massaini, dizendo que como concorrente ele não devia nem se aproximar de um jurado.”
O fato é que, apesar do vexame no restaurante, o filme venceu. Mas a reação negativa ou desdenhosa do novo establishment cinematográfico brasileiro calou tão fundo em Anselmo que ele resolveu mudar de rumo e mostrar que também sabia fazer cinema autoral, subvertendo as normas clássicas e acadêmicas.
Vereda, aventura autoral
Fez então aquele que talvez seja seu filme mais interessante e perturbador, Vereda da salvação (1965). Mais uma vez baseado numa obra teatral (de Jorge Andrade) e centrado num episódio de fanatismo religioso – uma comunidade rural comandada por um líder messiânico enlouquecido –, o filme entretanto rompia uma série de amarras estéticas anteriores. Em lugar dos planos bem compostos e da montagem picotada do Pagador, entravam em cena os planos longos, os enquadramentos oblíquos e a profundidade de campo da câmera inquieta e delirante do argentino Ricardo Aronovich, que trabalhara em Os fuzis (1964), de Ruy Guerra, e seria parceiro de diretores como Louis Malle, Alain Resnais, Raoul Ruiz e Andrzej Zulawski.
Não só a configuração visual, mas também a atuação alucinada do elenco correspondia ao ensandecimento crescente dos personagens, que culminava em cenas terríveis de exorcismo e assassinato de crianças. Assim como O pagador havia lançado Leonardo Vilar no cinema, Vereda trazia pela primeira vez como protagonista um iluminado Raul Cortez, no papel do líder messiânico.
Mas não adiantou. O filme foi recebido como uma tentativa frustrada de “parecer Cinema Novo”. Trata-se de uma injustiça histórica. Visto hoje, Vereda da salvação conserva intacta sua vitalidade e sua atualidade. Pena que, salvo engano, não exista nenhuma cópia decente disponível, em DVD ou streaming. Ele está completo no Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=UhlW72p-Ctc), mas numa cópia precária, gravada da TV. Mesmo assim, vale dar uma olhada.
Depois dessa incursão, Anselmo Duarte desistiu de perseguir um caminho autoral e voltou, seja como ator ou diretor, à trilha segura de um cinema mais convencional e, supostamente, popular. Dirigiu, entre outros, o épico gaúcho Um certo capitão Rodrigo (1971), segmentos de pornochanchadas coletivas, um policial estrelado por Pelé (Os trombadinhas, 1980) e o já citado O crime do Zé Bigorna, drama erótico-policial protagonizado por Lima Duarte. Como ator, merece destaque seu papel de tenente de polícia truculento no excelente O caso dos irmãos Naves (Luiz Sérgio Person, 1967).
A impressão que tenho é de que, mesmo tendo sido durante décadas um astro popular, um homem bonito e sedutor que foi para a cama com as mulheres mais desejáveis de seu tempo (e que sempre se vangloriou disso), um cineasta que conquistou prêmios internacionais e encantou plateias do mundo todo, Anselmo Duarte nunca deixou de ser o rapaz simplório e ambicioso do interior, que não conseguia entender muito bem tudo o que havia vivido e, principalmente, por que é que nem todo mundo gostava dele.
*José Geraldo Couto é crítico de cinema
Publicado originalmente no BLOG DO CINEMA