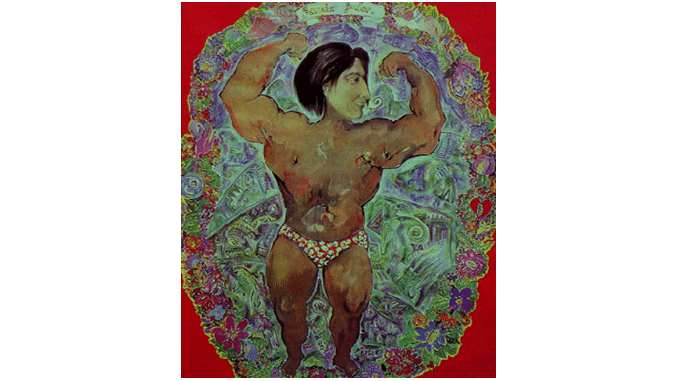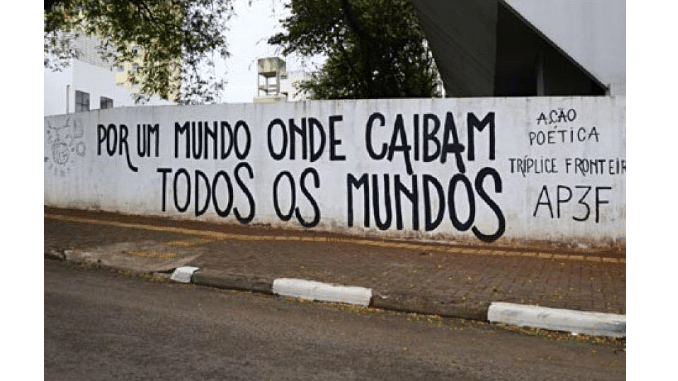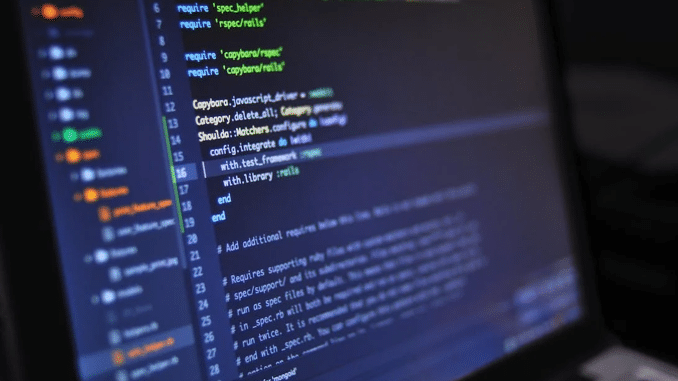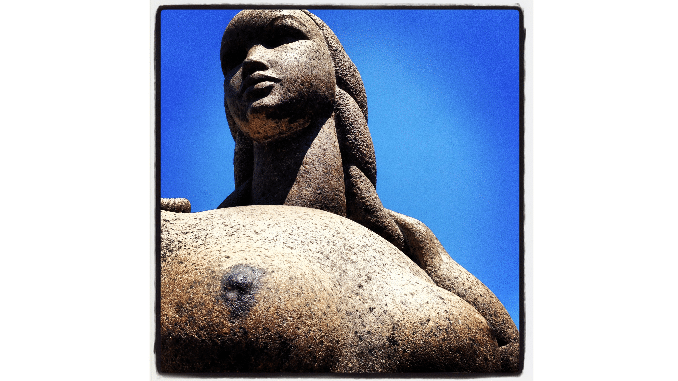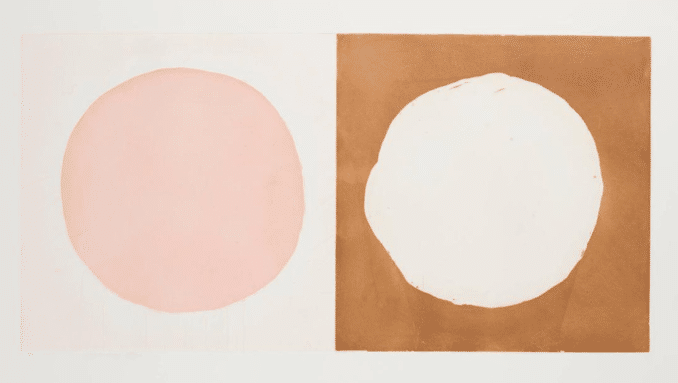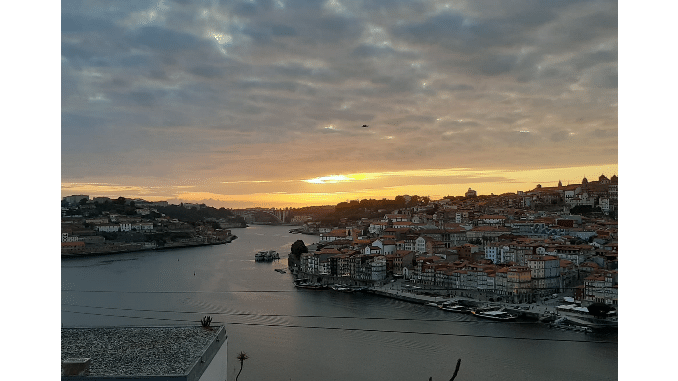Por TOM ENGELHARDT*
Desde o começo, Donald Trump era o candidato da América imperial em declínio
Em 2016, como agora, ele era o candidato do caos. Sim, ele era um bilionário (ou aspirante a bilionário, ou bilionário endividado; sem mencionar, também, mentiroso, trapaceiro e canalha), mas, desde o começo, ele apelava às forças da ordem na América que também eram, coincidentemente, forças do caos. Donald Trump entrou na loteria presidencial, ou, para ser completamente preciso, chegou a ela de escada rolante, pela coxia da direita. Em outro universo, ele poderia ter entrado pela coxia da esquerda e, desta ou daquela maneira, não teria se importado.
Afinal, nunca houve uma esquerda, direita ou centro para o rei dos aprendizes. Nunca houve algo que não fosse a figura imponente conhecida como The Donald, the man of the hour, qualquer hora, passada, presente ou futura. Independentemente de sua posição política do momento, ele refletia uma coisa acima de tudo: o caos subjacente e a má-fé de um mundo de riqueza, poder e desigualdade crescente. Um mundo que, por acaso, esperava por seu colapso.
Agora que ele está derrotado, pode-se contar com uma coisa: ele levará tanto quanto puder deste país consigo. Caso consiga fazer as coisas à sua maneira, quando finalmente saltar do navio, com o dinheiro na mão, ele nos deixará em um vasto comício de pessoas sem máscaras e com a morte correndo solta junto a nós. Desde o começo, ele sempre foi a personificação, com rosto laranja e cabelo amarelo, do caos. Agora, assim como partido Republicano fizera em 2016, esse país assume seu caos para si e, na esteira da eleição recente, uma questão óbvia é: Também temos hora marcada com o respirador da história?
Eu soo extremo? Espero, mesmo, que sim. Estamos num momento pós-eleitoral em impasse, sob um extremismo anteriormente inimaginável, em um país cada vez mais armado e dividido que costumava ser conhecido como “a última superpotência” do mundo. É importante (mas não o suficiente) que o envelhecido centrista Democrata Joe Biden tenha conquistado a presidência e, se tudo transcorrer minimamente como o esperado, seguirá seu caminho em direção à Casa Branca. Sem uma maioria no Senado, porém, e com uma maioria reduzida no Congresso, sem que os Democratas tenham tomado uma única legislatura estatal dos Republicanos, e com a América de Donald Trump ainda completamente mobilizada e pronta para… bom, sabe-se lá o que… não conte com boas marés à frente.
A personificação da carnificina
Desde o começo, Trump era o candidato da América imperial em declínio, ainda que poucos o reconhecessem naquele momento. Mesmo assim, deveria ter sido suficientemente óbvio em 2016 – era para mim de qualquer forma – que sua marca registrada, o slogan Make America Great Again, não era nada mais do que uma admissão de que essa nossa nação “excepcional” e “indispensável”, a maior superpotência da história (ao menos conforme os seus políticos gostavam então de acreditar) tinha, de fato, visto dias melhores.
Donald Trump era, e continua sendo, um vingativo pavão vaidoso enviado por Deus sabe quem para tornar a realidade óbvia de uma vez por todas. Isso foi definitivamente verdade no que diz respeito à parcela de trabalhadores americanos brancos e rurais que decidiram aderir ao bilionário falido e apresentador de reality shows. Em uma terra já marcada por uma estonteante desigualdade, ele era o único que iria, de alguma forma, devolver a eles seu status perdido, seu perdido sentimento de bem-estar americano e de um futuro que poderiam escolher para seus filhos e netos. E se ele não fizesse isso por eles, poderia ao menos servir de vingança emocional quando se tratasse de todos os desprezíveis poderes ‘que estão aí’ em Washington e que teriam, sentiam eles, os derrubado.
Sua ‘base’, como ficaram conhecidos na mídia, quem ele abominava, adorava e tocava como um acordeom, aderiu ao homem que, no fim, certamente iria deixá-los de mãos vazias sem o menor remorso. Naqueles anos, eles se tornaram sua propriedade, seus próprios aprendizes, assim como o partido político que ele também absorveu sem pensar duas vezes.
Quando se trata daquela base, ele se tornou, de certo modo, seu deus ou talvez seu demônio, e assim ele continua até hoje, mesmo na derrota. É claro, ele não se importa se acaba os levando à falência, abandonando-lhes numa vala, ou se continua a incitá-los em futuros comícios que, por mais que disseminem a morte, deixam-lhe sentindo-se completo, bom e maioral.
De outro lado, quando Joe Biden – a definição de um velho homem branco – finalmente, mancando, chegar ao Salão Oval, ele representará um retorno à normalidade em Washington, a retomada da América anterior. O único problema: a América anterior – se me perdoarem a repetição da palavra – era uma América em declínio, por mais que seus lideres não o soubessem. Era um país em rota para uma versão não-Americana de desigualdade e, portanto, de instabilidade, que seria outrora inimaginável.
Quem pode duvidar que o próprio Donald Trump seria a personificação do inferno na Terra? Ele era a bruxa dentro do guarda-roupas. Ele era a arte satânica do negociador (cada negócio, por definição, designado apenas para ele). Ele era o que este país vomitou das profundezas de suas vísceras como um presidente unicamente simbólico. A partir do momento em que ele proferiu aquele Discurso Inaugural de 20 de Janeiro de 2017, ele também seria a personificação da carnificina.
Sim, incite-me ainda mais, e, acredite, eu poderei continuar. Mas você entendeu o lance, certo?
E, no entanto, dê a Trump o crédito que ele merece. Ainda que intuitivamente, ele compreendeu exatamente onde este país estava e para onde ia (e, é claro, como ele poderia se beneficiar disso). Ele entendeu usas linhas de ruptura de uma forma que ninguém mais entendeu. Ele até mesmo entendeu como tocar uma campanha em defesa de – em vez de contra –uma pandemia de uma forma que deveria tê-lo deixado 20 mil léguas sob o mar, não boiando em uma piscina aquecida de Mar-a-Lago.
A história Americana não poderia ter uma moral mais sinistra: ele nos conhecia muito melhor do que nós mesmos. Para muitos americanos, ele dizia o que parecia ser a própria realidade. Não tinha importância alguma qual era sua aparência, qual impressão deixava, que ele era um vigarista da mais pura tradição Americana, ou que ele enganou o governo com o pagamento daqueles impostos que ele jamais revelaria. No fim das contas, independentemente do que realmente fosse, ele era a coisa genuína (fraudulenta) em um mundo onde um número crescente de Americanos sentia-se enganado pela política do 1% de uma Washington cheia de vigaristas de um tipo diferente.
Agora, apesar da massa de advogados que engajou para atrapalhar os esforços, Donald Trump perdeu a chance de uma segunda rodada no Salão Oval e, como resultado, tenha certeza, seremos todos deixados de mãos vazias. Em meio a uma pandemia infernal – não duvide por um instante – isso será outro tipo de inferno da terra.
Um voto pela desgraça
Agora, vejamos pelo lado positivo, porque neste momento quem deseja apenas ler uma enxurrada de negatividades? Então, aqui estão as boas notícias: graças à derrota do Presidente Trump nas eleições de 2020 (por mais que se demore para resolver tudo em tribunal), o mundo ruirá mais devagar, ainda que quanto mais devagar ainda esteja para se descobrir. Afinal, havia um único fator em qualquer segundo mandato de Trump que seria totalmente distinto.
Por mais que não pareça para nós, o resto do que teríamos visto em um segundo mandato de Trump – comportamento autocrático, racismo puro, uma versão acalorada do nacionalismo (branco ou não), masculinidade frágil, tudo no meio da pandemia do século – teria sido apenas outro capítulo atravessado na história da humanidade. Nesta longa história, autocratas e nacionalistas dos tipos mais sombrios têm sido normais e até mesmo as pandemias mais horríveis, tudo menos desconhecidas. Dê uma década, um século, um milênio, e seria como se nada tivesse mudado. Quem, senão os historiadores (se ainda existirem) iria sequer lembrar?
Infelizmente, isso não é verdade quando se trata de um fator das eleições de 2020, apesar de que este não tenha ocupado um papel secundário nas campanhas. Trata-se, certamente, do fenômeno da mudança climática, o aquecimento humano do planeta através da interminável emissão de gases de efeito estufa na atmosfera (e nos oceanos), a partir da queima de combustíveis fósseis.
É claro, desde que a revolução industrial movida a carvão começou na Inglaterra do século dezoito, o aquecimento deste planeta tem sido provocado e alimentado por nós, humanos, mas ele não é, de fato, parte da história humana. Ele se dará em uma escala temporal que provavelmente transformará essa história em poeira. Uma vez libertado, e, se não for mantido sob algum controle razoável (o que ainda é possível), será um fenômeno que persistirá, na forma mais devastadora possível, uma vez que se estabelecer verdadeiramente. Dê-lhe uma década, um século, até mesmo um milênio e ele ainda estará operando para garantir que a Terra, de uma forma ou de outra, torne-se um planeta distintamente hostil à humanidade.
Chega a ser um pouco estranho – você poderia até mesmo chamar de suicida – que Donald Trump (e a equipe que que ele trouxe para o poder) fosse tão decidida a não apenas ignorar ou ‘negar’ a mudança climática, como são frequentemente acusados, mas a amplificá-la ao, em essência, ativamente por fogo neste planeta. O termo usado pelo presidente para descrever isso foi “libertar a Dominação Energética Americana”. Quão estranho, no entanto, que sua intenção de destruir um planeta habitável tenha se provado tão popular, não apenas uma vez, mas duas – e quem sabe uma terceira vez em 2024.
Afinal, um voto em Trump era, essencialmente, um voto pela ruína. Até certo ponto, isso nem sequer era uma questão complicada, mas, vindo de uma base que parecia glorificar-se em seus festivais sem máscara, cheios de amor pelo seu One and Only, é possível que nada disso devesse ter sido uma grande surpresa.
Se Donald Trump tornou-se algo como um deus para seus apoiadores, então pode ser útil perguntar-se qual tipo de deus seria tão afirmativo em incendiar planeta (e, enquanto cuidava disso, assassinar seus próprios aprendizes com Covid-19)? Pode ser que tenhamos que pensar nele, de fato, como nosso próprio barqueiro Caronte, no rio Estige, remando-nos todos para o que algum dia poderia literalmente ser o inferno na terra.
Pois, no final das contas, estou escrevendo este artigo na cidade de Nova York em um dia de Novembro em que faz 23ºC lá fora[i] (e não, isso não é um erro de impressão). Mais uma tempestade tropical, em um ano recorde, encharcou partes da Flórida, um lugar que não é mais um swing state mas, como Mar-a-Lago, é propriedade do Donald. Enquanto isso, partes do Ocidente – tendo queimado, transformado-se em fumaça e se incendiado em uma situação histórica, através de milhões e milhões de hectares, em meio a ondas de calor abundantes – ainda estão ardendo (por mais que quase ninguém note), e o mundo não poderia estar menos unido.
Em um Senado controlado por Mitch McConnell, novos acordos ecológicos ou planos de dois trilhões de dólares tornar-se-ão mais fantásticos do que o próprio Donald Trump. Ainda assim, com Joe Biden e Kamala Harris dirigindo, ao menos, um país profundamente dividido em meio a uma pandemia e uma economia que foi para o inferno, a piromania, de certa forma, acalmar-se-á. Alguns modestos passos podem até mesmo ser tomados em direção a formas alternativas de energia, e alguns outros para salvar o meio ambiente, assim como uma humanidade em sofrimento. Não será o que é, de fato, necessário, mas também não será outra chama, e isso é a melhor coisa a se dizer sobre nosso momento e porque realmente importou que Donald Trump não fosse reeleito.
Agora, voltemos a 1991 por um momento, quando aquela outra superpotência, a União Soviética, implodiu. Os agentes do poder Americano (incluindo Joe Biden), acreditando estarem sozinhos no Planeta Terra e poderosos para além da imaginação, acreditando serem os herdeiros de tudo o que aconteceu, deram início ao que seriam desastrosas guerras eternas, certos de que este planeta os pertencia, mesmo quando a própria história – imagine! – estava acabando.
Quase três décadas depois, a mesma última superpotência é uma democracia em declínio, para não dizer no caos; um poder imperialista em declínio global; uma potência militar que não consegue encontrar uma guerra para vencer (por mais que o Congresso, independentemente de qual seja o presidente, apropria cada vez mais dinheiro para financiar o complexo militar-industrial). Temos um homem de 78 anos que se prepara para habitar o Salão Oval e outro homem de 78 anos se preparando para opor-se a ele no Senado, enquanto um homem de 80 anos administra o Congresso. Isso não diz algo a respeito de um país varrido por uma pandemia – 100 mil casos ou mais por dia – e, apesar das garantias de Donald Trump, sem uma ‘saída’ possível à vista? E nada disso seria o fim do mundo, por assim dizer, se não fosse pela mudança climática.
É certo que a Covid-19 transformou este país em um tipo de inferno na Terra, tendo sido deixada, pelo presidente, livre para percorrê-lo de uma forma sem precedentes. Os casos estão subindo, hospitais estão sobrecarregados, as mortes estão aumentando, e quase metade da América não consegue pensar em nada mais do que se aglomerar em comícios presidenciais, viver suas vidas sem máscaras e ‘abrir’ a economia.
O Trumpismo dividiu América em duas de uma forma inimaginável desde a Guerra Civil. O presidente e o Senado estão prestes a entrar em um impasse; o sistema judiciário, uma questão partidária de primeira ordem; o estado de segurança nacional, um império sombrio devorador de dinheiro; os cidadãos, armados até os dentes; o racismo aumentando, e a vida em todo lugar num crescente estado de caos.
Seja bem-vindo aos Estados (Des)Unidos. Donald Trump abriu o caminho e, independentemente do que ele fizer, eu suspeito que este, ao menos por um tempo, ainda é, de alguma forma, o seu mundo, não o de Joe Biden. Ele foi o cara e, goste o ou não, somos todos seus aprendizes em uma performance de poder destrutivo de primeira ordem, que ainda espera pelo seu verdadeiro fim.
*Tom Engelhardt é jornalista e editor. Autor, entre outros livros, de A Nation Unmade by War(Haymarket Books, 2018).
Tradução: Daniel Pavan
Publicado originalmente no Portal Salon.
[i] 74ºF, no original. A temperatura média de Nova York, em novembro, normalmente oscila entre 13ºC e 6ºC.