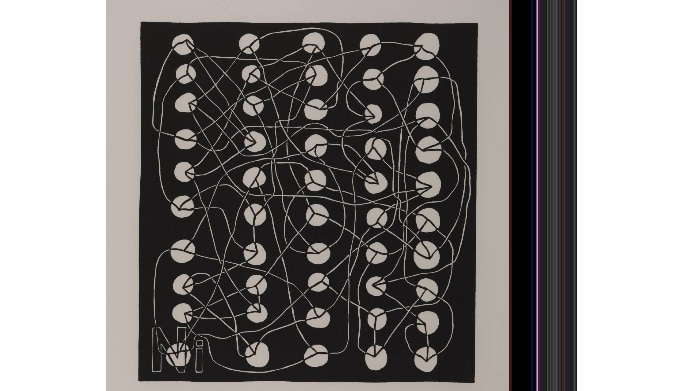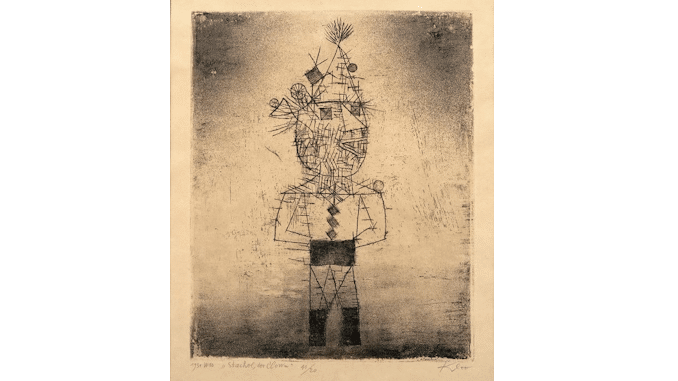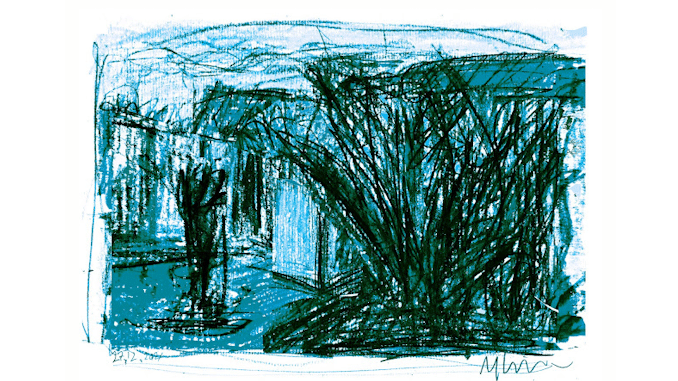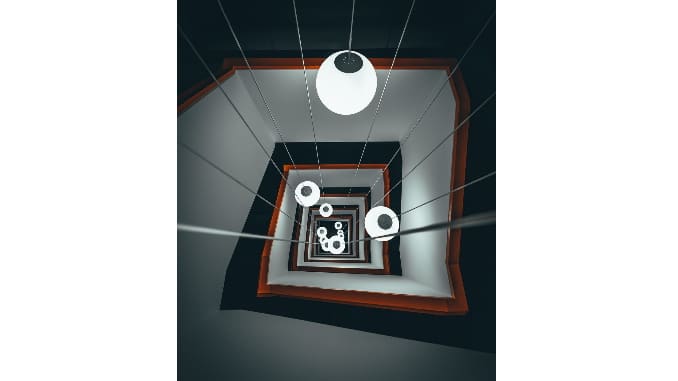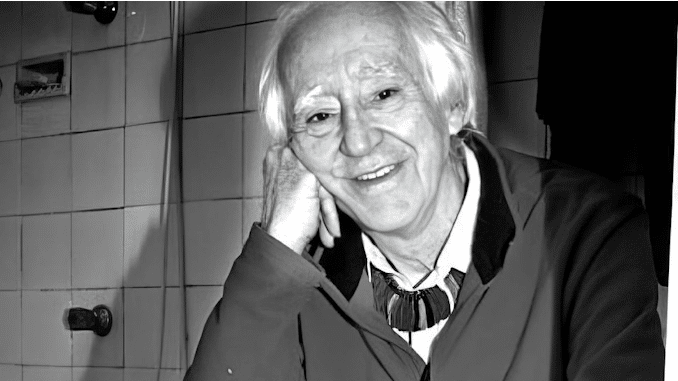Por GILBERTO LOPES*
A tentativa de retorno à ordem democrática liberal em um mundo que assiste o declínio do Ocidente
A dúvida foi levantada pelo colunista do The Washington Post, Ishaan Tharoor, na véspera da viagem do presidente Biden à Europa. Foi um passo a mais do presidente norte-americano para tentar reconstruir as relações com seus parceiros mais próximos, enfraquecidas durante a administração de Donald Trump, e melhor perfilar a natureza de seus inimigos.
“Biden pode salvar o Ocidente?”, perguntou-se Tharoor. Tem “grandes ambições”, diz ele: nada menos do que assentar as bases da nova década de confrontação entre as “democracias liberais” e os “poderes autocráticos”, dar início a uma nova era na competição entre ambos. “Seus interlocutores europeus estão entusiasmados”, diz Tharoor. “Os Estados Unidos estão de volta”, disse o presidente do Conselho Europeu, o ex-primeiro-ministro belga Charles Michael, um liberal muito conservador.
No ano passado, os organizadores da conferência anual sobre segurança de Munique cunharam o conceito de Westlessness. “O mundo está desocidentalizando-se?”, perguntavam-se. Há um século, diz o documento, o sociólogo Oswald Spengler publicou seu livro “O declínio do Ocidente”, no qual previu o fim da civilização ocidental. Hoje o tema é objeto de novos livros, artigos e discursos.
Este ano, o relatório tentou endireitar o debate numa reunião virtual no dia 19 de fevereiro. Biden acabava de assumir a presidência, despertando a esperança de que a reconstrução da aliança transatlântica permitiria ver além do Westlessness. O “Ocidente” é, neste caso, mais do que um conceito geográfico. É uma ideia política que combina o poder militar da OTAN com os ideais mais universais da ordem democrática liberal.
Um universo em que cresceu, no entanto, a desconfiança em relação ao papel dos Estados Unidos. De acordo com uma pesquisa conduzida pelo Conselho Europeu de Relações Internacionais, citada por Tharoor, a maioria dos europeus acredita que o projeto europeu está “fraturado”. Mas pensam o mesmo sobre o sistema político norte-americano e desconfiam de que possam voltar a assumir o papel de líder do “Ocidente”.
Mas há algo ainda mais importante: “o mundo das democracias liberais perdeu seu monopólio na definição do que é uma democracia”. A frase é de Ivan Krastev, diretor de programas do Center for Liberal Strategies, em Sofia, Bulgária, num artigo publicado no The New York Times em 12 de maio.
Biden propôs a realização de uma cúpula das democracias para formar uma coalização e confrontar os poderes autocráticos que atribui à Rússia ou à China. Mas, “para que isso ocorra”, diz Krastev, “ele terá que abandonar sua pretensão de decidir quem é um democrata e quem não é. De acordo com pesquisas realizadas por organizações muito conservadoras – tais como a sueca V Dem, contraparte da norte-americana Freedom House –, hoje em dia há mais pessoas vivendo sob regimes “autocráticos” do que sob regimes “democráticos”.
Como exemplos, ele cita a Índia, Hungria ou Turquia. “Se Biden insiste numa definição muito estrita de democracia, seu grupo ficará muito reduzido. Se aceita uma definição ampliada, corre o risco de deixar em evidência uma atitude hipócrita. A fronteira entre democracias e não-democracias tornou-se difusa e tem graves consequências se aplicada à política internacional”, adverte Krastev. Os novos regimes autoritários atravessam a fronteira entre democracia e autoritarismo quase tão frequentemente como os contrabandistas atravessam as fronteiras estatais.
Para Krastev, Biden não tem muitas alternativas para formar sua aliança de democracias. Ele pode incluir países como a Índia ou a Turquia nesse aliança. Ou dissociar esse esforço do outro, orientado para reavivar a democracia global. “Eu sugiro a ele este segundo caminho”, disse.
As origens
Charles King, professor de temas internacionais e de governo na Universidade de Georgetown, escreve na mais recente edição da revista Foreign Affairs um artigo no qual tenta traçar as origens do internacionalismo norte-americano e seus paradoxos, os mesmos que caracterizaram um de seus personagens centrais: o senador democrata do Arkansas, William Fulbright (1905-1995). “Líderes nacionais dos estados do sul que defendiam a escravidão não apenas como instituição doméstica, mas também como base de alianças e da ordem mundial”, diz King.
Esse Sul onde King foi procurar os segredos de uma política externa baseada no livre-comércio, cuja riqueza derivava, entretanto, das plantações de algodão, tabaco e outros produtos, como banana, ou cana-de-açúcar, que se estendiam da Baía de Chesapeake até o Golfo do México, resultado do trabalho forçado de cerca de quatro milhões de homens e mulheres. Esse modelo sulista do qual William Faulkner revelaria os segredos, como recordou o ensaísta, poeta, romancista, nascido na Martinica, francês e antilhano, Édouard Glissant: inalienável, grandioso às vezes, sempre (na obra de Faulkner) miserável e fatal.
King lembra-nos que em 1858, três anos antes do início da Guerra Civil nos Estados Unidos, o senador Jefferson Davis, que viria a ser presidente confederado, lamentava que, entre seus vizinhos da América Central e do Sul, os caucasianos se misturaram com índios e africanos. “Eles têm formas de governo livre porque as copiaram. Mas não alcançaram seus benefícios porque esse nível de civilização não está ao alcance de sua raça”, dizia ele.
Podemos pensar que tudo isto é coisa do passado, mas King traça aqui uma visão que, apesar da derrota do Sul e do fim da escravidão, dominou a política externa dos Estados Unidos, na qual se baseia a ideia da “excepcionalidade” norte-americano, reivindicada mais recentemente até pelo próprio presidente Obama.
King cita a conquista do Havaí, as guerras nas Filipinas, Cuba e o Haiti no final do século XIX, guerras baseadas no conceito de uma raça superior contra os aborígenes obstinados. Um princípio consagrado numa concepção de suas relações com a América Latina, expresso no conceito de “destino manifesto” em que se baseia a ideia de domínio natural sobre a região.
O mesmo raciocínio prevalecia durante a Segunda Guerra Mundial. Mas já naquele momento cresciam os protestos contra a discriminação racial no país e a Guerra Fria permitia à União Soviética exibir a hipocrisia das reivindicações norte-americanas sobre liberdade e democracia. “A coisa mais fácil para os políticos e intelectuais brancos era aceitar que a política interna e a internacional eram essencialmente duas coisas distintas”, diz King.
Algo que não passou despercebido pelo presidente russo, Vladimir Putin, quando mencionou, após seu encontro com Biden em Genebra, o assalto ao capitólio e o clima político nos Estados Unidos, que contribuiu para levar Donald Trump ao poder. Um clima que não desapareceu com sua derrota nas últimas eleições, e que tampouco deixou de ser recordado pelos líderes políticos europeus e pela imprensa durante o giro de Biden.
A democracia e o racismo
Uma nova geração de historiadores e cientistas políticos, diz King, agora está considerando seriamente os problemas da democracia norte-americana, redefinindo o lugar do racismo na história dos Estados Unidos e estabelecendo ligações explícitas entre a política interna e internacional. “Tanto os liberais como os conservadores tendem a reduzir os males causados pelos Estados Unidos no estrangeiro, enquanto reveem os que foram causados no interior do país”.
Como exemplo, King cita o sistema prisional norte-americano, as disparidades no sistema de saúde, ou o processo mais atual pelo qual setores próximos de Trump tentam controlar ou reduzir o direito ao voto no país. Liberais e conservadores tentam convencer-nos de que isto não é relevante para a compreensão da política internacional norte-americana, algo a que deve ser colocado um fim, segundo ele. “O autoritarismo norte-americano – de Jim Crow a Trump – tem uma semelhança familiar com os sistemas de violência e ditaduras personalistas em outras partes do mundo”, acrescenta. As leis Jim Crow redefiniram a segregação racial nos espaços públicos, sob o conceito de “separados, mas iguais”.
King sugere que no senador Fulbright se resumiam estas qualidades e defeitos. Fulbright desempenhou um papel fundamental nos movimentos contra a Guerra do Vietnã, apoiou a criação da ONU, seu programa de bolsas para estudantes esteve na mira das campanhas anticomunistas do senador Joseph McCarthy. Mas, afinal um sulista, do Sul profundo, sempre apoiou as leis racistas. “A biografia de Fulbright é a evidência de que o que de melhor os Estados Unidos produziram no século passado era inseparável do pior”. King percorre sua trajetória para encontrar no “paradoxo Fulbright” alguns dos fundamentos da política externa norte-americana, que hoje enfrenta desafios exteriores semelhantes aos que enfrenta sua política interna.
Os desafios
O giro de Biden começou na Cornualha, Inglaterra, onde participou da cúpula do G-7, o grupo das potências em torno das quais se pretende organizar a aliança pela democracia. De lá, foi para Bruxelas, sede da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN).
O principal foco da cúpula da OTAN, disse Robbie Gramer, jornalista responsável pela diplomacia e segurança nacional na revista Foreign Policy, foi reiterar a política de solidariedade transatlântica, depois da era Trump colocá-la em dúvida. E discutir uma nova estratégia que reoriente os objetivos da confrontação com o bloco soviético – que caracterizou o período da Guerra Fria – para outros objetivos, tais como o desafio chinês, as ameaças cibernéticas ou as mudanças climáticas. Naturalmente, dadas suas características, é para os primeiros que as forças da OTAN são mais adaptadas. Mas o próprio Gramer reconhece que apenas seis meses depois de ter assumido o cargo, Biden enfrenta uma série de desafios para reunir as políticas de Washington com as de seus aliados europeus tanto em relação à China como à Rússia.
Nem todos os aliados estão alinhados com a proposta norte-americana de confrontação com a China. Outros, especialmente os da Europa Oriental, não querem uma mudança de abordagem que ponha em segundo plano o que para eles é fundamental: sua confrontação com a Rússia. Há também aqueles que não querem ser arrastados para uma confrontação entre duas superpotências.
Após o encontro com os aliados, Biden partiu para a Suíça, para seu encontro com o presidente russo Vladimir Putin. Com as relações em seu ponto mais baixo em muitas décadas, com a Rússia sob sanções de Washington e da União Europeia, o encontro serviu a Biden para renovar as ameaças de novas sanções se os russos repetirem ataques cibernéticos contra empresas norte-americanas, se interferirem na política interna ou se deixarem o oposicionista Alexei Navalny morrer na prisão. O “Ocidente” avançou até a fronteira russa, tanto na Ucrânia como na Bielorrússia, mas rejeitam as respostas de Moscou – a anexação da Crimeia e o apoio às forças próximas da Rússia nos países vizinhos – para os avanços que considera uma ameaça à sua segurança.
Todos se medem
Rafael Ramos, correspondente do jornal espanhol La Vanguardia em Londres, referiu-se à “relação especial” com os Estados Unidos que os governos britânicos tanto gostam de enfatizar. Uma relação que para os Estados Unidos não parece ser tão “especial”, “um reflexo da queda do império e do progressivo declínio britânico desde o fim da II Guerra Mundial”, diz Ramos.
Ao longo das décadas, acrescenta, tornou-se uma relação quase abusiva, “na qual Washington espera que Londres diga sim a tudo”. Como aconteceu durante o governo de Tony Blair, quando ele apoiou a invasão do Iraque, com o espanhol Aznar como outro parceiro do presidente George W. Bush. Essa “relação especial” deu origem a uma nova Carta Atlântica, na qual ambos os países se comprometem a colaborar em questões de segurança e defesa, proteger a democracia e combater os ataques cibernéticos da Rússia e da China.
A Carta Atlântica não é uma ideia original. O original foi subscrito por Churchill e Roosevelt em agosto de 1941. Dois meses antes, os nazistas tinham invadido a União Soviética. Na carta – um breve documento de oito pontos –, as duas principais potências ocidentais da época expressavam uma visão otimista do mundo do pós-guerra, que a história revelou ser ilusória.
Prestes a completar 80 anos, a versão original da Carta é, no entanto, um documento histórico, enquanto a nova versão pode ter sido esquecida antes de completar 80 dias. Churchill e Roosevelt falavam do fim da II Guerra Mundial. Biden e Johnson referem-se ao mundo pós-Guerra Fria, o da globalização neoliberal.
O balanço dessa época é controverso. “A globalização”, diz o diplomata e acadêmico de Singapura Kishore Mahbubani, “não fracassou”. Mas os analistas concentram-se apenas nos 15% da humanidade que vive no Ocidente e ignoram os outros 85%. E as elites ocidentais também não repartiram os frutos da globalização com o resto de sua população.
Na opinião de Mahbubani, foi na Ásia que a globalização provou ser um sucesso, com a emergência de uma classe média que gerou riqueza, numa aposta por instituições internacionais equilibradas e pela estabilização de um sistema internacional baseado em regras que pudesse beneficiar a maioria da humanidade. Tudo aquilo com que sonhava a Carta Atlântica original, mas que o “Ocidente” não pôde realizar.
Quando os historiadores do futuro estudarem esta época, acrescentou Mahbubani, “ficarão surpresos ao ver que uma república tão jovem como os Estados Unidos, com menos de 250 anos, procurou influenciar uma civilização que é quatro vezes maior em população e com 4.000 anos de idade”.
*Gilberto Lopes é jornalista, doutor em Estudos da Sociedade e da Cultura pela Universidad de Costa Rica (UCR). Autor de Crisis política del mundo moderno (Uruk).
Tradução: Fernando Lima das Neves.