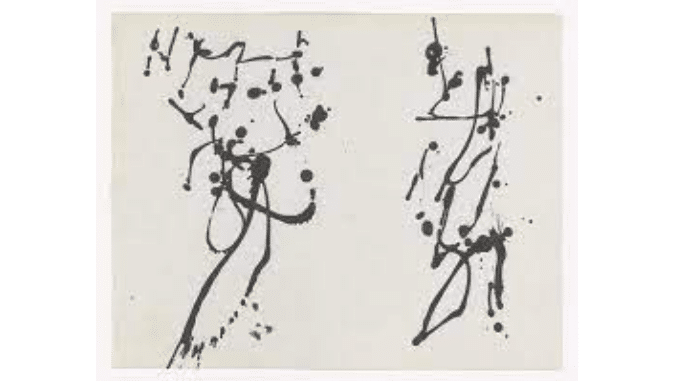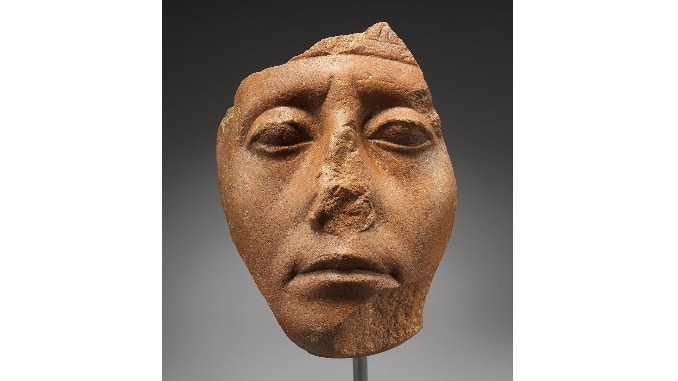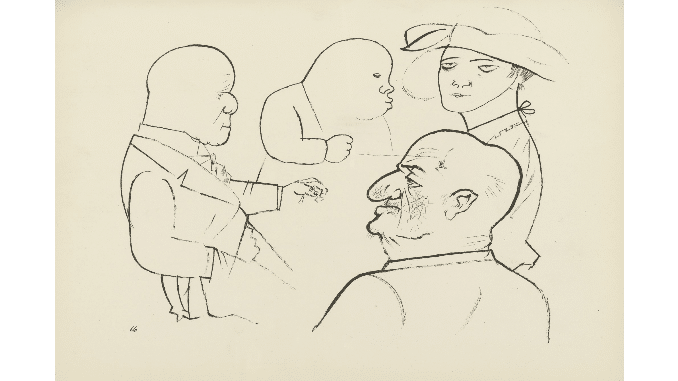Por ALFREDO BOSI*
Um esboço de autobiografia intelectual
Creio que a certa altura de nossa vida a memória pessoal nos transcende; assim, o que dissermos poderá ter algum significado na esfera da história e da cultura. De resto, só essa esperança nos redime do pecado de falar de nós mesmos, hábito inveterado que tantas vezes cultivamos, e que é, nas palavras de Umberto Eco, a essência mesma do mau gosto.
Por onde começar? Pelo caderno em que o adolescente copiava os seus poemas prediletos misturando sonetos de Camões e Sá de Miranda – O sol é grande, caem com a calma as aves – e a Berceuse das rimas riquíssimas, de Guilherme de Almeida, que rimava lágrimas com milagre mas… Mas nesta antologia íntima havia também poemas feitos para chorar, poemas que eu lia secretamente, em voz baixa, comovido até o ponto crítico do nó na garganta. E era O pequenino morto de Vicente de Carvalho e eram Os cisnes, de Júlio Salusse, colhido em alguma revista literária dos anos de 1950. Os tercetos ficaram ecoando até hoje em minha memória:
Um dia um cisne morrerá por certo;
Quando chegar esse momento incerto,
No lago, onde talvez a água se tisne,
Que o cisne vivo, cheio de saudade,
Nunca mais cante, nem sozinho nade,
Nem nade nunca ao lado de outro cisne.
Folheando hoje, tantos anos depois, este caderno, procuro o nome de algum poeta contemporâneo que me tivesse despertado o desejo de trazê-lo para a companhia dos clássicos, românticos, paranasianos e simbolistas que mereciam então o cuidado da cópia manuscrita e a emoção do leitor solitário. E encontro um soneto de Drummond,‘“Legado” (que começa com uma interrogação perplexa: Que lembrança darei ao país que me deu / tudo que lembro e sei, tudo quanto senti? / Na noite do sem-fim, já o tempo esqueceu/ minha incerta medalha, e o meu nome se ri. E duas folhas adiante, a “Oração da noite” de Cecília Meireles. Como poderia então o adolescente ensimesmado imaginar que, meio século depois, convidado a dar uma conferência por ocasião do centenário de Cecília Meireles, iria discorrer sobre o sentimento de ausência do mundo que é o tema daqueles catorze versos transcritos no seu caderno? Tudo obra do acaso ou coerência secreta armada por uma vocação que se ignorava a si mesma?
Mas, consciente ou não, o chamado às Letras era forte, tão forte que, na hora de escolher a profissão, não hesitei um só momento: queria ser professor de Português, e segui o caminho direto, que era fazer o curso de Letras Neolatinas na Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo. Permitam-me relembrar a primeira aula a que assisti, dada pelo saudoso professor Ítalo Bettarello, que regia a disciplina de Literatura Italiana. Digo relembrar, porque já evoquei essa passagem na introdução que escrevi para a coletânea de ensaios Leitura de Poesia. Foi assim: “A aula era de literatura italiana. Todos calouros, e a maioria inexperta no idioma do bel paese là dove il sì suona”.
A São Paulo do segundo pós-guerra já não era aquela cidade ítalo-brasileira dos anos de 1920 que os modernistas cantaram e contaram. Mas, desprezando solenemente as cautelas didáticas e apostando tudo na palavra do filósofo e na força maior da nossa ânsia de aprender, o professor Ítalo Bettarello abria o seu curso lendo o período inicial da Aesthetica in nuce de Benedetto Croce: Se si prende a considerare qualsiasi poema per determinare che cosa lo faccia giudicar tale, si discernono allá prima, costanti e necessari, due elementi: un complesso d’immagini e un sentimento che lo anima.
Traduzindo: “Se nos dispomos a considerar qualquer poema para determinar o que nos faça julgá-lo como tal, discernimos ao primeiro olhar, constantes e necessários, dois elementos: um complexo de imagens e um sentimento que o anima”.
Tudo o mais pendia dessa visada ao mesmo tempo simples e profunda.
O exemplo que ilustrava a doutrina era tirado de Virgílio. Croce analisa o Canto Terceiro da Eneida, em que Enéias conta como aportara no Epiro, onde reinava o troiano Heleno com Andrômaca. Desejoso de ver aqueles seus concidadãos escapos ao desastre, Enéias vai ao encontro da rainha fora dos muros da cidade, em um bosque sagrado junto às águas de um arroio a que tinham dado o nome de Simoente em lembrança do rio que banha Tróia. Andrômaca está celebrando ritos fúnebres diante de um túmulo vazio onde erguera dois altares, um para Heitor, seu primeiro esposo, e o outro para o filho Astíanax.
Ao vê-lo, é tomada de pasmo e desfalece. Enéias recorda as palavras truncadas com que, retornando a si, Andrômaca o interpelara querendo saber se ele era homem ou sombra. Vem depois a resposta não menos conturbada de Enéias que, por sua vez, lhe pede que rememore o passado. E a evocação dolorosa e pudica de Andrômaca que revisita o seu destino de sobrevivente ao massacre, de escrava tirada em sorteio e feita concubina de Pirro, que, no entanto, a rejeitara e a dera como escrava a Heleno; e a morte de Pirro por mão de Orestes, e a libertação de Heleno que se tornou rei. Segue-se ao relato a procissão de Enéias com os seus pela cidade que, pequenina, em tudo imita a Tróia gloriosa e derruída dos antepassados comuns (Canto III, 295-355).
Finda a leitura do episódio, o que temos? Imagens de pessoas, imagens de coisas, de gestos, de atitudes, não importa se historicamente reais ou apenas vigentes na fantasia do poeta. (Esta última constatação pesaria bastante em meu futuro modo de ver as relações entre figuras poéticas e fatos historicamente atestados). Não imagens soltas nem avulsas, pois através de toda elas corre o sentimento, um sentimento que não é mais do poeta que nosso, um humano sentimento de pungentes memórias, de arrepiante horror, de melancolia, de nostalgia, de enternecimento, e até de algo que é pueril e ao mesmo tempo piedoso, como aquela vã restauração das coisas perdidas, aqueles brinquedos forjados por religiosa piedade, da parva Tróia: algo de inefável em termos lógicos, e que só a poesia, a seu modo, sabe dizer plenamente.[1]
De certo modo, a doutrina crociana da poesia como figuração de um determinado pathos, como intuição de um movimento da alma, dava estatuto teórico à minha ingênua mas intensa fruição do poema capaz de me levar a transcrever no caderno textos que me comoviam e encantavam. Olhando hoje em retrospecto a passagem do leitor apaixonado ao estudioso munido de uma teoria estética, eu diria que sem aquela primeira disposição de ânimo em direção ao poético, de muito pouco me serviria o instrumental aprendido nos bancos da faculdade. A paixão não é suficiente para interpretar o poema, mas é absolutamente necessária, e os professores de Literatura que amadureceram antes da fase estruturalista da crítica literária sabem que só os que dispunham de seiva própria puderam atravessar o areal dos esquemas linguísticos sem estiolar-se na mais triste aridez.
Como se sabe, a doutrina crociana dava pistas notáveis para entender o nexo entre imagem ficcional e movimentos subjetivos, o que é o saldo positivo do legado do filósofo italiano e uma das matrizes professadas pela Estilística espanhola. Mas, na medida em que Croce negava drasticamente a pertinência estética das outras relações da poesia (com o discurso histórico, com a filosofia, com a moral, com a religião, com o saber científico…) criava sérios impasses para o intérprete que pretendesse fazer uma leitura histórico-social do texto literário.
Tive consciência desses limites quando, terminado o curso de Letras, recebi uma bolsa de estudos para estudar literatura e filosofia italiana na Faculdade de Letras de Florença, no ano letivo 1961-1962. A hegemonia do pensamento crociano, evidente até os anos de 1950, já estava sendo substituída por outras fontes teóricas, basicamente o existencialismo e o marxismo.
O existencialismo não separava os móveis afetivos do eu lírico e as suas opções filosóficas e políticas. Para o pensador da existência, o ser humano que cria uma obra de arte pensa a própria vida subjetiva e, ao mesmo tempo, vive dramaticamente o seu pensamento e o seu engajamento. Fazer literatura era, para Camus, uma escolha vital que incluía emoção, teoria e projeto político. A mesma exigência percorria toda a obra de Sartre.
Quanto ao marxismo, é necessário lembrar que, na Itália do começo dos anos de 1960, a figura central era a de Antonio Gramsci, cujos densos textos de polêmica contra o idealismo crociano eram lidos com reverência pela aguerrida intelectualidade de esquerda espalhada por todas as universidades. Um exemplo que ilustra bem a diferença das abordagens crociana e gramsciana encontra-se no modo de analisar a obra de Dante, em particular a Divina Comédia. Croce distinguia claramente, na obra, o que significava poesia, isto é, momentos de alta expressão lírica e imagística (os episódios de Paolo e Francesca, de Ulisses e de Ugolino, por exemplo), e o que seria não-poesia, isto é, os passos de reflexão teológica ou política, numerosos sobretudo no Purgatório e no Paraíso.
Para Gramsci e para os marxistas, no entanto, parecia arbitrário separar lírica e fundo doutrinário, lírica e convicção ideológica. De todo modo, Croce sempre reafirmou, até seus últimos escritos, o estatuto imaginário da obra de arte, que pode cobrir todo o reino do possível, ao passo que as ciências devem ater-se ao universo do real que se pode atestar e constatar. O possível inclui tudo o que é real mais o que pode vir a sê-lo, e neste último sentido, o possível é também objeto do desejo e da fantasia, que, por sua vez, estão em casa na hora de se criar uma obra de arte.
Essas distinções de Croce ainda me parecem válidas e aproveitáveis na hora de pensar as múltiplas relações entre a história literária e a historiografia propriamente dita.
Voltando ao Brasil, em 1962, cumpriu-me lecionar Literatura Italiana, atividade que me ocupou intensamente até 1970, quando passei a ministrar a disciplina de Literatura Brasileira. Quem viveu aqueles anos turbulentos da história brasileira convirá comigo que não é fácil ordenar didaticamente a riqueza contraditória de correntes e contracorrentes culturais que caracterizou tanto o período anterior ao golpe militar de 1964 quanto os chamados anos de chumbo, que avançaram pelo decênio seguinte. As tendências superpunham-se ou baralhavam- se. O existencialismo cedia ao marxismo (era o caminho de Sartre, então o guru dos intelectuais inconformistas), ou então refluía para suas origens fenomenológicas, pela ação de Ricoeur e de Gadamer, mestres da hermenêutica, aqui representada pelas propostas da revista Tempo Brasileiro dirigida por Eduardo Portella. No campo da análise literária, a Estilística, que dependia, em parte, da estética crociana da expressão, era descartada pelo estruturalismo ou, mais genericamente, pelo formalismo. Este, tangido pela censura estalinista, se deslocara do mundo eslavo para a França, e tinha como figura inspiradora o grande linguista Roman Jakobson, que teorizara as funções da linguagem.
Estudo do itinerário narrativo de Pirandello
Em 1964, defendi tese de doutorado sobre o itinerário narrativo de Luigi Pirandello. Estudei seus contos e romances que, com raras exceções, antecederam a sua obra teatral. A rigor, minha abordagem distanciava-se tanto da sociologia da literatura como da análise estrutural da narrativa, então em plena moda. O que me atraía na obra de Pirandello era o conflito entre a vida subjetiva das personagens e as máscaras que estas deviam afivelar para sobreviver em sociedade. É o tema pirandelliano por excelência, que os seus dramas encenariam obsessivamente. Interessava-me flagrar o mesmo contraste nos seus romances regionalistas, sicilianos, em O falecido Mattia Pascal, sua obra-prima, e nos enredos das Novelle per um anno, alguns dos quais dariam matéria para os dramas da sua fase madura.
Não me parecia, então, que o marxismo ortodoxo ou o estruturalismo dispusessem de instrumentos de sondagem capazes de apreender a qualidade do pathos que pulsava nas situações pirandellianas. O existencialismo, sob a forma do personalismo, que se inspirava em Max Scheler, e tinha sido trabalhado por filósofos cristãos franceses e italianos (Lavelle, Le Senne, Mounier, Pareyson), aprofundava as relações da pessoa com o outro, o que poderia ser um ponto de partida para estudar a narrativa de Pirandello. No fundo, porém, o que esta trazia a lume não era o sentimento da comunhão, mas era precisamente a ruptura, a impossibilidade de convívio do sujeito com o seu contexto familiar e, tragicamente, a impossibilidade efetiva de libertar-se desse mesmo contexto. Uma situação existencial que, rigorosamente falando, deriva da emergência do sujeito romântico, que a sociologia marxista identifica com o eu burguês, usando, a meu ver, o termo “burguês” de modo excessivamente genérico.
Tese sobre mito e poesia em Leopardi
Ainda dentro da disciplina de Literatura Italiana, defendi tese de livre-docência, em 1970, intitulada Mito e poesia em Leopardi. Como o trabalho sobre Pirandello, essa tese ficou inédita e talvez fique assim por muito tempo, pois nela há questões ainda não resolvidas. A hipótese central era ambiciosa e derivava, agora sim, da ênfase que o estruturalismo de Lévi-Strauss dava ao mito como forma narrativa matriz. Mas, em vez de analisar a obra de Leopardi como combinação de mitemas básicos (o que seria seguir o modelo estruturalista, que é sintático), preferi reconhecer nos temas fundamentais do poeta a reinterpretação lírica de alguns mitos da nossa cultura judaico-cristã ou greco-romana, como o mito da natureza edênica, o mito do paraíso perdido ou da queda e o mito prometeico da resistência do homem à força dos deuses, isto é, à força do destino; o que resultou em dar à análise um modelo semântico.
Esse enfoque não está em Lévi-Strauss, que, aliás, preferia os mitos indígenas aos temas permanentes da tradição ocidental. Quem se abeira da tradição greco-romana ou judaico-cristã é Paul Ricoeur, cuja obra La symbolique du mal foi um de meus apoios teóricos. Definitivamente, o estruturalismo não seria o meu caminho, pois, mesmo tratando de um tema ligado ao corpus dessa corrente, como é o caso do mito, acabei batendo às portas do método hermenêutico.
Paul Ricoeur trata o mito como um complexo de significados inerente à nossa tradição e, como tal, suscetível de compreensão por parte do pensador que vive em um regime de familiaridade e quase co-naturalidade com figuras e sentimentos próprios da sua herança cultural.
No entanto, o fato de reconhecer alguns mitos bíblicos ou gregos na obra de Leopardi não me dispensava de historicizar a sua reconstrução, feita por um poeta das primeiras décadas do século XIX que vivia na Itália, então dividida em ducados, principados, reinos estrangeiros e domínios pontifícios, ainda à margem da corrente romântica que dominava na França, na Inglaterra e na Alemanha. Daí a necessidade de entender as condições culturais que levaram o poeta a polemizar com Madame de Staël e a defender ardorosamente a beleza insuperável da Antiguidade em oposição às modas neogóticas do Romantismo germânico ou celta. Leopardi, ainda adolescente, traduzira de modo admirável o Segundo Canto da Eneida além de numerosos poemas gregos.
Um clássico em pleno século XIX? Na realidade, um poeta filósofo que não acreditava no progresso linear cantado pelos liberais. Não por acaso o seu pessimismo foi louvado por outro pessimista radical, Schopenhauer, o melhor leitor alemão de Leopardi. Mas havia no coração de sua amargura o desejo de resistir, o que o seu último poema, La ginestra, exprime admiravelmente, pois a giesta é a flor que resiste às lavas que descem pelas encostas áridas do Vesúvio. Tratava-se de uma contra-ideologia, que não se alimentava de esperanças forjadas pela política dos partidos. Um pessimismo que pede a solidariedade dos homens contra os males que advêm da própria natureza, antes madrasta que mãe. Tampouco terá sido por acaso, Leopardi inspirou o capítulo do delírio de Brás Cubas, como luminosamente apontou Otto Maria Carpeaux em um artigo revelador.
Em resumo, recorri à hermenêutica dos mitos, mas não pude ignorar a situação política e cultural da Itália de Leopardi. Caminhos diferentes do pensamento crítico começavam a cruzar-se e davam um tom de perplexidade a minhas tentativas de interpretar textos literários.
A história literária e a historiografia
O que minhas teses me deixaram como legado intelectual, nesse fim dos anos de 1960, era e é um problema agudo e fundamental. O problema da relação entre poesia e história, e, portanto, da relação entre o discurso da história literária e o da historiografia tomada na sua acepção ampla, que engloba a história social, a história econômica e a história política. E foi justamente nesses anos que, graças à indicação generosa do poeta e amigo José Paulo Paes, fui convidado a escrever uma história literária, a História concisa da literatura brasileira, que publiquei em 1970.
Uma das dificuldades maiores que a história literária vem enfrentando, desde o período romântico em que se começou a postular a identidade literária dos povos e nações, é precisamente escolher o seu objeto prioritário. A matéria-prima do historiador literário é tudo o que se escreveu e que pode ser considerado representativo de uma certa cultura? Responder afirmativamente significa tomar a palavra “literatura” no seu amplo sentido de material escrito sobre uma grande variedade de temas. Ou a sua matéria é o texto literário em sentido estrito, o que vem a dar prioridade à poesia, à narrativa ficcional, à tragédia, à comédia, ao drama, em suma, aos gêneros textuais em que predomina a imaginação ou o sentimento, sem relação obrigatória com a verdade atestável dos atos representados? Note-se que este dilema já estava formulado na oposição que Croce fazia entre poesia e não-poesia, englobando nesta última todos os elementos didáticos, políticos, científicos, religiosos etc., que formariam a estrutura cultural de uma obra, mas não lhe dariam a identidade poética e artística, constituída da síntese de imagem e sentimento, intuição e afetividade.
Os dois modelos de história literária no Brasil
Eu tinha à minha disposição dois modelos mutuamente exclusivos, e que marcavam a tradição da história literária brasileira desde fins do século XIX: o modelo sociológico representado pela História da literatura brasileira de Sílvio Romero e o modelo histórico-estético representado pela História da literatura brasileira de José Veríssimo. Basta ler com atenção as introduções que cada um desses historiadores da literatura escreveu para as suas respectivas obras para perceber o quanto eram diferentes e, mesmo, polemicamente opostas. Em outro contexto, que me era mais familiar e próximo, a oposição repontava na polêmica que Afrânio Coutinho, nos anos de 1950 e 1960, assumiu ao postular uma abordagem estético-estilística para a historiografia literária, contrapondo-a à crítica historicista ou sociologizante, que vinha da tradição romeriana, e que continuaria vigente em boa parte das universidades brasileiras.
Na Universidade de São Paulo, ao lado do historicismo tradicional e da tradição filológica, a interpretação sociológica era mediada, no magistério de um crítico da envergadura de Antonio Candido, por uma atenção às peculiaridades de cada autor e, sobretudo, às estruturas propriamente literárias das obras estudadas, como se pode facilmente verificar lendo as finas análises de texto que integram os capítulos da Formação da literatura brasileira. Trata-se de uma obra capital que desde o momento de sua publicação vem fecundando os estudos universitários de nossa literatura.
No Rio de Janeiro, independentemente das práticas acadêmicas, a crítica vinha, desde os anos de 1930 e 1940, dando mostras de excepcional vigor, sendo de estrita justiça destacar ao menos dois nomes que honraram esta casa, muito me ensinaram e continuam a ensinar-me, Augusto Meyer e Álvaro Lins. Aos quais acrescento o nome de uma estudiosa que me é particularmente cara, Lúcia Miguel Pereira.
Embora eu compreendesse as razões daqueles dois lados (que, diga-se de passagem, na altura dos anos de 1970, pareciam descartadas pelo discurso estruturalista, que não era nem historicista nem estético), a minha formação teórica me deixava em um lugar um tanto atípico. Eu aderia intimamente à estética de Croce, que conferia uma identidade à poesia e à arte, em geral, como forma intuitiva, figural e expressiva de conhecimento, mantendo, como vimos, uma distinção de fundo entre o ato poético e as outras práticas discursivas.
Mas (e há muita força nessa conjunção adversativa…), mas a leitura de Gramsci e particularmente a resistência moral e cultural que marcara a mim e a minha geração ao logo dos anos de chumbo levavam-me a inserir decididamente o texto literário na trama da história ideológica em que fora concebido. Ambas as instâncias eram exigentes e faziam-se presentes na hora da escolha dos autores e no ajuizamento das obras, que ora valiam como representativas de uma certa mentalidade, ora valiam por si mesmas como criações estéticas bem realizadas.
Embora ninguém deva ser juiz em causa própria, parece-me que, na elaboração da História concisa, consegui respeitar ambas as exigências sem perder a consciência de que eram perspectivas diferentes a ponto de não permitirem um cômodo ecletismo. Em outras palavras: um poema ou um romance podem ser significativos do ponto de vista sociológico ou político, mas essas suas qualidades não os elevam, por si mesmas, ao estatuto de obras de arte. De todo modo, as melhores obras de todas as literaturas valem sempre pelos dois critérios, o representativo e o estético.
Passando a um exemplo para sair de um discurso que se arrisca a cair na armadilha da abstração, lembro que, ao estudar o romance nordestino dos anos de 1930 e 1940, um dos períodos mais ricos da história de nossa narrativa realista, vali-me do conceito de tensão entre o narrador e a sua matéria; conceito finamente elaborado por Lucien Goldmann em seus ensaios de sociologia do romance. Detive-me então nas obras de Jorge Amado, Érico Veríssimo, Marques Rebelo, José Lins do Rego e Graciliano Ramos, que me facultaram a reflexão sobre romances de tensão mínima e de tensão máxima. Uma abordagem dialética na sua relação entre obra e sociedade, mas que tomava sempre como pressuposto o valor literário do corpus a ser interpretado.
Entre o historicismo e o método dialético
Analisando e interpretando textos em sala de aula, eu suspeitava cada vez mais que o reconhecimento da diferença entre os níveis estético e social, embora necessário, não era suficiente. Era preciso cavar mais fundo no campo da teoria literária e da teoria da historiografia para compreender aquelas relações que não deveriam permanecer em um regime de mera exterioridade.
Em primeiro lugar, era necessário mapear semelhanças ou analogias. Tanto a história literária como a historiografia geral lidam com fenômenos únicos e, a rigor, irrepetíveis. Uma obra de arte não é igual a outra, por mais que guardem ambas características comuns de forma ou significado. O mesmo acontece com um fato histórico. O evento é aquilo que não voltará, tal e qual, no espaço e no tempo, seja uma batalha, seja uma revolução, seja uma eleição, seja um golpe de Estado.
A unicidade ou irrepetibilidade de uma obra e de um evento histórico exige do historiador literário ou social a capacidade de selecionar obras ou eventos significativos, operação indispensável em virtude do número crescente e cumulativo de obras e eventos. Para operar seletivamente, ambos devem orientar-se por uma certa perspectiva, que definirá os seus critérios de significação. Pois só fica ou, em princípio, só deve ficar o que significa. Unicidade ou irrepetibilidade, da parte do objeto; seletividade e perspectiva, da parte do estudioso – eis algumas características comuns que aproximam o crítico literário e o historiador.
Onde começariam as zonas de diferenciação? Na linha do historicismo alemão ainda haveria um campo de analogias considerável. Os culturalistas herdeiros de Dilthey, e, mais remotamente, de Vico, reconheciam na história da civilização amplos movimentos culturais que correspondiam a determinados períodos históricos bem demarcados. Daí provém a admissão de grandes estilos de época em que se inserem atos, fatos e obras: o Renascimento, o Maneirismo, o Barroco, o Rococó, o Arcadismo, o Neoclassicismo, o Romantismo, o Realismo, o Naturalismo, o Simbolismo, para ficar só com as denominações de movimentos mapeados até o fim do século XIX.
O conhecimento desses estilos seria, portanto, um primeiro passo para agrupar personalidades e obras discriminando o que estas teriam de comum entre si no bojo das tendências ideológicas do seu tempo. Burkhardt, por exemplo, já falava, antes de Dilthey, no homem do Renascimento, portador de certos atributos constantes, como o culto do indivíduo, e sabe-se quanto Nietzsche bebeu nessa fonte ao criar a figura do super-homem. O Barroco e o Romantismo propiciaram descrições semelhantes, a tal ponto que às vezes o historiador literário caía na petição de princípio de considerar uma obra como barroca porque composta no período barroco, o qual, por sua vez, era barroco porque havia produzido obras com características… barrocas.
Um dos resultados menos felizes do historicismo à outrance era e é, precisamente, o de subestimar a unicidade e a irrepetibilidade da obra de arte, na medida em que parte de categorias de estilo comuns a um certo período e tende a apagar as diferenças que estremam um texto de outro, um poeta de outro, um narrador de outro. Igualmente, certas semelhanças ou coincidências temáticas ou estilísticas entre obras de tempos diferentes convidam o historicismo puro a ver cadeias apertadas de influências, chegando às vezes ao extremo de acreditar que uma certa obra gerou outra escrita muito tempo depois, transformando a intertextualidade em paternidade à distância.
Lembro-me de um professor de Literatura Brasileira que afirmava, sem qualquer sombra de dúvida, que São Bernardo, de Graciliano Ramos, só se tornou possível porque, antes dele, Machado de Assis tinha escrito Dom Casmurro: a prova era que ambos os narradores eram muito ciumentos… Não sei como Graciliano, que não primava pelo bom humor, teria reagido a essa especulação.
A admissão dos estilos históricos mantinha, de todo modo, a sua coerência e validade, e não me furtei a ela ao ordenar minha história literária. Mas, como disse, eu suspeitava que não bastavam as semelhanças nem muito menos a subordinação de experiências individuais a um fundo comum cultural ou ideológico. Onde começariam as diferenças efetivas? Como ressalvar, no discurso histórico-literário, o caráter singular da obra de arte? Como mostrar que o ato estético nasce de uma vivência afetiva ou cognitiva ou lúdica peculiar, a qual foi estilizada de um certo modo, e não de outro, com ressonâncias subjetivas próprias, que a forma linguística tornou mais ou menos comunicáveis a outros seres humanos? De resto, nem sempre perfeitamente comunicáveis, pois nem sempre a linguagem do poema ou da prosa é transparente, necessitando do esforço da interpretação.
Para responder a essa questão difícil, mas incontornável, a crítica sociológica de estrita observância não tinha instrumentos afinados, pois ela trabalhava e trabalha com grandes categorias unificadoras como a classe social e o tipo histórico-social, categorias que contêm a priori o elenco de marcas definidoras dos autores e das suas personagens. Para a crítica determinista, dizer que uma obra foi produzida por um aristocrata ou para um público aristocrata dá a chave para entender o caráter das personagens ou as metáforas do poema. A pergunta fica em pé: o que individualiza um texto poético e o diferencia de outro se ambos foram produzidos no interior da mesma classe social e para serem lidos por um público pertencente a essa classe? Esta era uma das questões cruciais que pretendi enfrentar ao longo dos anos de 1970, em plena maré objetivista, representada tanto pelo estruturalismo como pelo marxismo, duas abordagens sistêmicas e classificatórias dos fenômenos simbólicos. Um dilema sem saída à vista, ou um problema a ser equacionado?
Embora marcado por leituras existencialistas e hermenêuticas, que tendiam a aprofundar as instâncias subjetivas do escritor e a reconhecer a margem de liberdade de suas opções estilísticas, devo dizer que a compreensão histórico-social dos textos literários se me afigurava não só uma necessidade epistemológica, mas um imperativo ético-político, afastando-me, ainda que parcialmente, da órbita crociana, de inspiração idealista. Lembro minhas leituras de Goldmann, que se somavam a leituras anteriores de Gramsci, e se somariam, nos mesmos anos de 1970, a leituras de Hegel, Adorno, Benjamin e Simone Weil. Eram todos filósofos que abriam no corpo compacto das ideologias dominantes a brecha do espírito crítico, e acendiam a luz da consciência ética e estética na opacidade das determinações econômicas e das opressões políticas.
A lição de Otto Maria Carpeaux
E, nesta altura, é a hora de fazer justiça a um historiador da cultura ocidental a quem eu já dedicara minha História concisa da literatura brasileira, Otto Maria Carpeaux, cuja História da Literatura Ocidental se transformara em meu livro de cabeceira. E o que me ensinava Carpeaux junto com a sua imensa erudição?
Carpeaux ensinava, entre tantas outras coisas fundamentais, a meia verdade do determinismo sociológico. Maquiavel já estimara as proporções da vontade humana e da força do destino quando falava em metà virtù metà fortuna, acrescentando com seu implacável realismo que provavelmente à fortuna se deveria conceder um pouco mais do que a metade das causas dos atos praticados pelo ser humano. Transpondo para a análise dos fatores da obra literária a proporção apontada pelo secretário florentino e passando- a pelo crivo do historicismo dialético de Carpeaux, o que teríamos? Um renovado conceito de tensão entre os pólos do determinismo e da liberdade criadora, um difícil equilíbrio entre as categorias sócio-históricas e a individuação autoral, um renovado e difícil equilíbrio entre as ideologias dominantes e as contra-ideologias articuladas ao longo da criação artística.
Reconheço agora, olhando em retrospecto, que trabalhava em meu espírito um propósito de superar conservando (no sentido hegeliano do termo “dialética”) a drástica oposição de poesia e não-poesia, arte e ideologia.
O cerne da dialética de Carpeaux na elaboração da História da Literatura Ocidental encontra-se precisamente na sua capacidade de identificar nos grandes textos literários não só a mimesis da cultura hegemônica, mas também o seu contraponto que assinala o momento da viragem, o gesto resistente da diferença e da contradição. Este olhar arguto, que reconhece tanto a ortodoxia como as suas necessárias heresias, discerne até mesmo na escrita dos antigos, tão cristalizados pela tradição escolar, as formas múltiplas do dissenso.
Leia-se o que Carpeaux escreveu sobre o poeta Lucano, que foi levado ao suicídio por ter conspirado contra Nero (65 d.C.). A sua epopeia Pharsalia, foi considerada pelo erudito latinista Gaston Boissier o poema da opposition sous les Césars. Lucano, que era estoico, assim como o seu contemporâneo Sêneca, também suicida no mesmo ano de 65, não idealizava os detentores do poder imperial. À diferença de Virgílio, que inventou uma genealogia divina para nobilitar a figura de Augusto, Lucano prefere a todos o grande vencido, Catão – Victrix causa diis placuit, sed victa Catoni – “A causa vencedora agradou aos deuses, mas a Catão a dos vencidos”.
Escolhi esse exemplo, verdadeiro paradigma, como poderia ter escolhido centenas de outros em que Carpeaux apreende o sentido de resistência de um autor em face do discurso hegemônico de sua época. Quase sempre a fonte dessa consciência crítica vem da memória de tempos passados tidos por melhores, a Idade de Ouro. É a austera simplicidade da República, anterior à corrupção do Império na história de Roma. Será, mais tarde, a pureza da Igreja primitiva contrastada com a decadência do papado, na mente dos reformadores e dos movimentos neo-evangélicos da Idade Média. Às vezes, não é a memória de um paraíso terreno mítico, mas a utopia do Reino, da sociedade igualitária ou do comunismo universal que leva o escritor a afrontar os seus contemporâneos e, com os olhos postos no dia que há de vir, desmascarar as trampas da ideologia corrente.[2]
Do espelho à resistência – a elaboração de O ser e o tempo da poesia
Creio que nos meados dos anos de 1970 os tacteios que eu vivia entre as exigências estéticas e as ideológicas conseguiram afinal ceder lugar a uma intuição da rota que era necessário trilhar sem cair em um emperrado maniqueísmo. O caminho era o da análise e da interpretação de poemas cuja força e beleza se impunham à minha sensibilidade, buscando neles as duas relações fundamentais que podiam entreter com a ideologia dominante no seu contexto. A relação de espelhamento e a relação de resistência.
Para flagrar a primeira relação, que se pode chamar de especular, a história social e cultural que condicionou a obra escolhida para análise dá os dados de base. O historicismo sempre foi pródigo na colheita de materiais contemporâneos do autor e de sua atividade literária, informando-se sobre o seu meio familiar, a sua educação básica e superior, os livros que lia, os intelectuais que frequentava, os grupos literários ou políticos e as modas culturais do seu tempo e, na vertente marxista, a classe a que pertencia, ou a que aspirava pertencer, bem como a classe dos seus leitores. Poderíamos chamar essa operação de trabalho de reconhecimento do terreno, o que dá ao discurso do historiador literário um caráter fortemente remissivo na medida em que a obra remete ao contexto, e este, por sua vez, determina, ou, numa linguagem mais branda, condiciona a obra.
Mas a relação de espelhamento não é a única. A perspectiva do narrador ou do poeta pode ver ou entrever o que a ideologia encobre ou falsifica. Nesse enfrentamento entre o processo ficcional e as racionalizações do pensamento hegemônico encontramos o cerne vital da literatura de resistência. O conceito e as suas formas básicas me ocuparam longamente desde que redigi, por volta de 1976, o ensaio “Poesia resistência”, capítulo de O ser e o tempo da poesia, que saiu no ano seguinte, até a coletânea Literatura e resistência, publicada recentemente.
O ensaio mapeava algumas formas de poesia de resistência: poesia-metalinguagem, poesia-mito, poesia-biografia, poesia-sátira e poesia-utopia, e terminava com uma análise do poema longo de Leopardi, “La ginestra”.
Forças e formas de resistência na literatura e na história do Brasil
Muito do que venho especulando e escrevendo, dos anos de 1980 até hoje, tanto no campo da interpretação literária como em ensaios de história cultural, está marcado pela percepção dos movimentos de contraste no interior dos estilos de época (movimentos de contradição que o método dialético de Carpeaux aponta na sua grande História). Ou no interior das próprias obras que entram em tensão com as ideologias dominantes no seu tempo ou, ainda mais dramaticamente, entram em tensão consigo mesmas.
É possível, mas não posso asseverar com toda certeza, que a escolha que tenho feito de obras que me atraem particularmente recaia na representação de situações existenciais permeadas de contrastes e conflitos quer sociais quer psicológicos. De todo modo, as contradições existem, e delas vem um senso de vivacidade intelectual que lhes concede uma recorrente atualidade, ainda que os conflitos sejam devedores de ideologias e contra-ideologias de outros tempos. O discurso pede exemplos.
Antonio Vieira – Que forças sociais levaram os colonos do Pará e do Maranhão a expulsar o padre Vieira dessas terras de missão, e que forças sociais e culturais levaram a Inquisição portuguesa a encarcerá-lo por dois anos movendo-lhe um processo que resultou em proibir-lhe o ministério da pregação em sua pátria?
Em ambos os casos o jesuíta temerário agira em função de projetos que contrariavam abertamente o poder estabelecido. Defendendo os índios do Norte em nome de um plano de evangelização que obstava a escravização pura e simples da mão-de-obra, Vieira embaraçava o caminho dos colonos apresadores cujas incursões no interior tinham precisamente esse objetivo. Defendendo o direito de os cristãos-novos permanecerem em Portugal, onde os seus capitais seriam indispensáveis para o financiamento da Companhia das Índias Ocidentais, Vieira se tornava suspeito à Inquisição que se aproveitou prontamente das brechas que os seus escritos proféticos abriam ao fazer coincidir o estabelecimento do Quinto Império com a reunificação das tribos de Israel e o seu retorno à Terra Prometida.
Tanto a liberdade tutelada dos índios como a pregação desse tempo messiânico eram componentes contra-ideológicos alimentados por este sonhador impenitente, que pagou duramente o preço das suas utopias. Mas se a obra de Vieira fosse mero espelho da ideologia colonial ou da ortodoxia do Santo Ofício, de que nos valeria a sua eloquência? Teria virado apenas pasto e repasto de gramáticos puristas.
Basílio da Gama – O Uraguai – Ainda no contexto do Brasil Colônia, veja-se a fecunda contradição ideológica que permeia o belo poema de Basílio da Gama, O Uraguai, tão justamente admirado por Machado de Assis. Ao estuda-lo julguei que o ensaio que lhe iria dedicar não poderia ter outro título que não fosse “As sombras das luzes na condição colonial”.
As Luzes, que vinham do Portugal pombalino em um momento de aliança tática com a Espanha, pelo Tratado de Madri, consideravam racional e útil expulsar os missioneiros dos Sete Povos para submeter a região ao domínio português em troca da Colônia do Sacramento, que passaria à Coroa espanhola. Essa era a razão das Luzes, explicitada pela ação e pelo discurso de Gomes Freire de Andrada, que encabeça as tropas coloniais, invade a região dos Sete Povos e procura persuadir os chefes indígenas a ceder as terras da missão.
Eco da vontade do Marquês de Pombal é a proposta assumida por Basílio da Gama que almeja dar a seu protetor mais uma e definitiva prova da abjuração do seu passado de noviço da Companhia de Jesus. Ocorre, porém, que para sorte dos leitores dialéticos do poema, Basílio era mais do que um adulador em versos opacamente laudatórios do poder: era um artista e um homem sensível à integridade e à beleza dos guaranis acossados pelas forças tão superiores do exército colonial.
O Segundo Canto do poema é exemplar como ponto e contraponto de um duo desconcertado em que a voz heroica, resistente à morte, será a dos rebelados povos. Sepé Tiaraju, que se tornaria figura de lenda no cancioneiro gaúcho, vem desarmado e só, sem arcos e aljavas nem quaisquer gestos de deferência, sem mostras nem sinal de cortesia, para com a suprema autoridade militar. Essa imagem dá a medida do homem americano, ao mesmo tempo livre e capaz de razões, pois é de razão que falará ao general o seu companheiro Cacambo:
Ó General famoso,
……….
Bem que nossos avós fossem despojo
Da perfídia de Europa, e daqui mesmo
Com os não vingados ossos dos parentes
Se vejam branquejar ao longe os vales,
Eu, desarmado e só, buscar-te venho,
Tanto espero de ti. E ENQUANTO AS ARMAS
DÃO LUGAR Á RAZÃO, SENHOR, VEJAMOS
SE SE PODE SALVAR A VIDA E O SANGUE
DE TANTOS DESGRAÇADOS (II, 48-59).
A fala do missioneiro vem sustentada por uma proposta arrazoada de paz. O índio mostra confiança na vigência da razão humana que a todos aproximaria: ENQUANTO AS ARMAS DÃO LUGAR À RAZÃO… Mas o desfecho do encontro dos guaranis com o general deixa claro que há duas razões em conflito: a do direito natural, ou jus gentium, alegada pela teologia escolástica e postulada pelos missionários; e a razão de Estado, nada menos que o direito da força, que, em nome do “sossego da Europa”, alegado por Gomes Freire de Andrada, expulsará os missioneiros e arrasará os Sete Povos, que hoje são majestosas e melancólicas ruínas.
No mesmo poema convivem a ideologia colonial do adulador do Marquês de Pombal e a voz dos vencidos, aos quais o poeta concede o timbre do heroísmo massacrado.
Outras figuras de resistência
A direção do olhar estabelece a perspectiva. A história literária tende a selecionar os seus objetos e o faz com um critério mais rigoroso, com um peneiramento mais fino do que a historiografia social e política, cujo corpus de referência precisa ser o mais aberto e inclusivo possível para evitar o risco das generalizações feitas a partir de um número diminuto e pré-escolhido de exemplos.
A história literária lida com objetos únicos e altamente individualizados, as obras poéticas e narrativas, que podem ser agrupadas segundo os grandes estilos de época ou, na operação que vimos tentando, segundo acentuadas tendências de cunho existencial ou ético. Assim pude, depois de ter escrito Poesia resistência, buscar relações assemelhadas no campo do romance e expô-las no texto Narrativa e resistência, que integra a coletânea mencionada. A releitura de narradores poderosamente críticos como Raul Pompéia, Lima Barreto e Graciliano Ramos abriu-me novas perspectivas para detectar as diferenças internas latentes no conceito de narrativa resistente.
Saindo da órbita da literatura brasileira, mas não da experiência brasileira, tive a grata surpresa de achar, em um livro de contos de Albert Camus, L’exil et le royaume, uma narrativa cujo tema é a metáfora perfeita do conceito de resistência, o mito de Sísifo, a pedra que rola e que o herói grego tenta em vão levar ao alto da montanha. O conto chama-se “La pierre qui pousse”, “A pedra que brota”. Para encanto do leitor brasileiro, a pedra, no caso, jaz no centro de uma praça diante da Igreja de Bom Jesus, em Iguape, cidade colonial e caiçara que Albert Camus visitou, levado por Oswald de Andrade por ocasião da sua vinda ao Brasil.
O autor de La peste imaginou o encontro entre um engenheiro francês, que está trabalhando em Iguape, e um Sísifo negro, um marinheiro que fizera promessa ao Bom Jesus em um momento de perigo no mar: prometera carregar na cabeça uma pedra de cinqüenta quilos e depô-la no altar do padroeiro no dia de sua festa. No entanto, o nosso devoto marinheiro dançara a noite anterior numa longa sessão de macumba, o que o deixara exausto. Não consegue carregar a pedra e cai no meio do caminho. Quem vai substituí-lo no cumprimento da promessa será o engenheiro francês, contrastando assim a ideia da vida como um peso absurdo graças a um gesto inesperado de solidariedade. A vida continuará sem sentido, mas, mesmo assim, ou por isso mesmo, é preciso que nos demos as mãos uns aos outros.
Voltando à órbita da literatura brasileira
O marinheiro negro de Camus carregou o quanto pôde uma pedra excessivamente pesada, mas não aguentou levá-la até o altar do Bom Jesus. Se voltarmos no tempo e nos detivermos na sorte infeliz de um grande poeta negro brasileiro que morreu meio século antes da vinda de Camus ao Brasil, Cruz e Sousa, veremos a mesma imagem da pedra, mas sobreposta a outras pedras erguendo um muro atrás do qual o poeta se diz emparedado.
Cruz e Sousa viveu e morreu em um período da história brasileira e ocidental em que imperava, na ciência e na ideologia corrente, a tese da existência de raças superiores e inferiores. Colonialismo e eurocentrismo uniam-se para estigmatizar o negro como representante de uma etapa arcaica e, portanto, inferior na escala evolutiva do ser humano. Mesmo cientistas idôneos e atentos à riqueza da cultura afro-brasileira, como Nina Rodrigues, consideravam o negro incapaz de um desempenho intelectual semelhante ao do branco, além de portador de sentimentos violentos, moralmente aquém das exigências da civilização europeia. Este era o contexto das ideias e dos preconceitos que Cruz e Sousa teve de enfrentar ao longo de sua existência breve e sofrida. E como ele exprimiu a sua revolta como homem e artista cuja pele era vista como um estigma?
Leia-se o seu poema em prosa intitulado “O emparedado”. O poeta vê-se a si mesmo entre quatro muros altos de pedra levantados pelo preconceito; mas o que mais o espanta e o indigna é flagrar o homem de ciência trazendo com as suas próprias mãos pedras e mais pedras para emparedá-lo e impedir que ele denuncie a ignomínia da sua condição. Não conheço na literatura brasileira passagens mais lúcidas e vibrantes do que o desafio que o Dante negro lança à peça forte da ideologia dominante, a antropologia racista.
Ele interpela a ciência chamando- a de “ditadora de hipóteses”, o que é admirável, porque o que era ciência no fim do século XIX já não o seria no século XX, sobretudo a partir dos estudos iluminadores de Franz Boas, que tanto influíram no pensamento antropológico de Gilberto Freyre. Mas, quando Cruz e Sousa, inconformado, perguntava qual era a cor de seus sentimentos, de sua imaginação, dos seus sonhos, das suas formas poéticas, mostrando com veemência que o mundo dos símbolos e da criação artística não tem nada a ver com a química da epiderme, ele estava só, sem o apoio dos sábios do seu país e do seu tempo. Que melhor exemplo de tensão entre poesia e ideologia, a ponto de a poesia ser a própria resistência anti-ideológica?
É compreensível que a sociologia determinista prefira colecionar casos em que a literatura nada mais seja do que representação das ideologias dominantes. O velho historicismo já seguia, a seu modo, essa trilha provando por a + b que toda obra literária reproduz os traços fundamentais da cultura do seu tempo. Os positivistas, que, como se sabe, criaram a Sociologia (desde Comte, que batizou a nova ciência, até Durkheim, o seu grande mestre entre fins do século XIX e começo do XX) não tinham dúvidas a respeito do fator “meio” como princípio causador da obra literária. E, nesse sentido, retomavam o dogma do Conde De Bonald, patriarca do pensamento conservador francês, que definia a Literatura, tout court, como “expressão da sociedade”.
O que a teoria crítica da cultura, de Benjamin a Adorno, veio descobrindo, a partir dos anos de 1920 e 1930, foi precisamente o avesso dessa fórmula genérica. A melhor literatura não acolhe passivamente a imagem da sociedade que lhe dá o cotidiano anestesiado pelos discursos assentados sobre o que aí está. O que já era o embrião da hipótese das tensões formulada por Goldmann. E quem leu, como tive o privilégio de fazê-lo, os numerosos exemplos de contra-ideologia que povoam a História da literatura ocidental de Otto Maria Carpeaux, aprendeu uma lição de resistência que marca para a vida inteira.
Rumo à história das ideologias como história cultural
Nos meados dos anos de 1980, tendo já ministrado vários cursos sobre literatura colonial, senti a necessidade de aprofundar o conhecimento das fontes culturais dos textos que eu interpretava nas salas de aula. Tive então a oportunidade de pesquisar nos arquivos romanos da Casa dos Escritores Jesuítas e no vasto acervo dos processos da Inquisição portuguesa que se conservam na biblioteca da Torre do Tombo instalada na Assembléia Nacional em Lisboa. Dessas pesquisas nasceram os ensaios sobre Anchieta, Vieira e Antonil que integrariam a Dialética da colonização, só publicada em 1992.
Não me deterei, por brevidade, na reconstituição das várias hipóteses de trabalho que procurei reunir nesta obra. O objetivo central era detectar as múltiplas relações que entretêm entre si a colonização, o culto e a cultura.
Os três conceitos são expressos por palavras que têm a mesma raiz latina, o verbo colo. Entre as suas várias acepções, colo significa cultivar a terra, ocupar e dominar a terra alheia, isto é, a colônia, evocar e invocar os mortos e os deuses, pelo culto transferido da matriz para a terra conquistada, e, finalmente, construir um universo de saber e um projeto intelectual, que o termo cultura exprime cabalmente. Colônia = cultivo + culto + cultura.
Mas, apesar dessa afinidade etimológica, o que a história me ia revelando era um campo de tensões raramente bem resolvidas entre o projeto material de colonização e os valores ideais do culto ou da cultura. Se às vezes os interesses do colonizador encontraram eco na palavra do nosso primeiro economista, o sagaz jesuíta Antonil, conselheiro dos senhores de engenho, ou então as incursões dos bandeirantes foram exalçadas pelos forjadores de nobiliarquias, outras vezes os agentes do processo de conquista seriam julgados pela palavra ardente do maior dos oradores sacros da nossa língua, o padre Antônio Vieira.
No contexto do Segundo Reinado, José de Alencar, patriarca do romance brasileiro, votava no Senado contra a Lei do Ventre Livre, seguindo os passos dos conservadores Bernardo Pereira de Vasconcelos, já desaparecido naquela altura, e do Marquês de Olinda, ainda ativo e ferrenho escravista. A cultura romântica passadista de Alencar dava um aval ao status quo; mas a mesma cultura romântica inspirava palavras de deprecação e julgamento na pena de Gonçalves Dias, patriarca da poesia indianista e autor de uma prosa notável, “Meditação”, precoce libelo emancipacionista.
Dois escritores românticos indianistas: um endossava com a sua palavra as práticas mercantis e desumanas da colonização; o outro denunciava, com as armas do culto ou da cultura, as iniquidades de um processo que dizimava os indígenas e escravizava os africanos. A este jogo de sim e de não atribuí o termo “dialética”, consciente de que o conceito mesmo já não desfrutava, naqueles anos de 1980 e 1990, do mesmo prestígio que o aureolara nos decênios anteriores.
O livro contempla outras situações em que os conflitos ideológicos vêm à tona. Em uma República Velha liberal, incrusta-se uma província regida por uma constituição própria, de fundo positivista, antiliberal, entre progressista e centralizadora, o Rio Grande do Sul. O contraste não será só feito de ideias, mas de projetos políticos, o que a Revolução de 1930 mostrou cabalmente. No positivismo social assumido pelos políticos gaúchos vitoriosos em 1930 encontra-se a arqueologia do nosso Estado-providência.
Outro exemplo que toca a tantos de nossa geração: no ano de 1956, o presidente Juscelino Kubitschek lança o seu plano de modernização que culminará com a fundação de Brasília; no mesmo ano, um correligionário de JK lança uma obra-prima que é toda fundada na revalorização e no aprofundamento das matrizes arcaicas do sertão mineiro – Guimarães Rosa publica Grande sertão: veredas.
Enfim, para não dizerem que ignorei o presente, o que é ser pós-moderno? Romper com a racionalidade moderna, ou levar às últimas consequências os processos técnicos e os pressupostos ideológicos da modernidade capitalista? Pós-moderno é anti-moderno ou ultramoderno? Se nada é simples no conceito de colonização, tampouco as faces da civilização contemporânea são uniformes.
Tirei alguma lição deste itinerário que já dura meio século? Certamente a suspeita de que a cultura é um encontro tenso de espelhamentos e resistências, transparências e opacidades, o que às vezes lhe dá a figura de enigma. Voltando me ultimamente para a obra do bruxo que habita esta casa e a todos nós, foi a palavra “enigma” que me ocorreu quando me dispus a decifrar o seu olhar, no qual me pareceu entrever um misto de crítica implacável e estoica resignação. Relendo Machado de Assis, tem sido este o caminho que venho percorrendo, e só Deus sabe se será o último.[3]
*Alfredo Bosi (1936-2021) foi professor Emérito da FFLCH-USP e membro da Academia Brasileira de Letras (ABL). Autor, entre outros livros, de Literatura e resistência (Companhia das Letras).
Publicado originalmente na revista Estudos Avançados Ano 19, no. 55, 2005.
Notas
[1] Em Leitura de poesia (org. de Alfredo Bosi), São Paulo, Ática, 1996, pp. 7-9.
[2] Otto Maria Carpeaux dá, em sua História da literatura ocidental, numerosos exemplos de resistência da literatura à ideologia dominante. Comentei alguns casos significativos em Literatura e resistência, São Paulo, Cia. das Letras, 2002, pp. 36-40
[3] Depoimento dado durante o III Ciclo de Conferências “Caminhos do Crítico”, na Academia Brasileira de Letras, em 10 de maio de 2005.