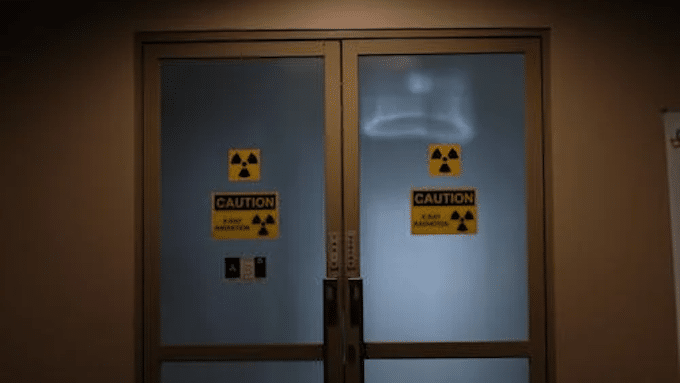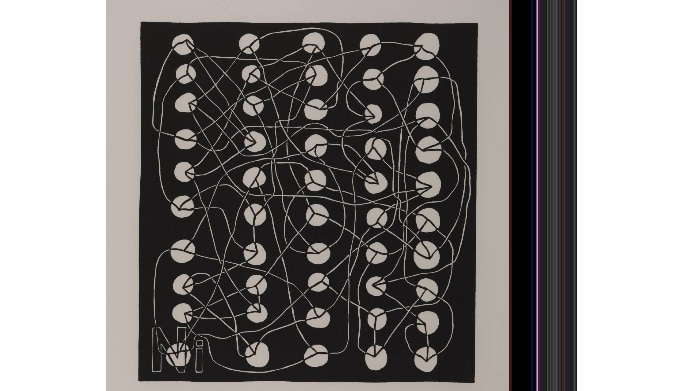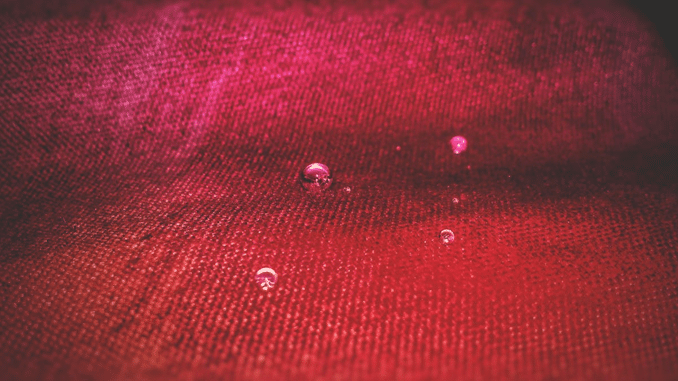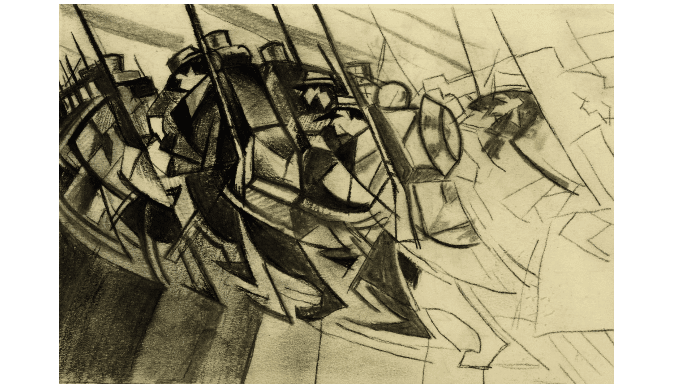Por LEONARDO BELINELLI*
Comentário sobre o livro recém-lançado de Alexandre de Freitas Barbosa
A importância dos intelectuais e a autoconsciência de Alexandre de Freitas Barbosa são indicadas já no título de Um nacionalista reformista na periferia do sistema: reflexões de economia política. A formulação, claro, remete a Um mestre na periferia do capitalismo, de Roberto Schwarz. O recurso, no entanto, não implica similaridade. Se o título de Schwarz adianta a tese do livro e expõe sua avaliação sobre a potencialidade crítica da escrita madura de Machado de Assis, escritor periférico à altura dos melhores escritores centrais, o de Barbosa traz três informações: seu posicionamento político (“nacionalista reformista”), o lugar de onde e sobre o qual pensa e fala (“periferia do sistema”) e do que se trata, afinal de contas (“reflexões de economia política”). Podemos ir mais longe e assinalar que o “nacionalista” causa arrepios aos pares ortodoxos do autor, em geral à direita do espectro político; já o “reformista” gera desconforto entre os amigos da esquerda, muitos dos quais simpáticos à causa revolucionária.
Como se percebe, a combinação dessas múltiplas informações requer autoconsciência. Típica do estilo machadiano, ela é explicitada: “Escrevo, portanto, da periferia deste sistema, procurando flagrar a sua totalidade cambiante e a sua manifestação particular em um território específico, onde se movimenta uma sociedade capitalista e desigual e a história sempre se refaz de maneira peculiar. Pregando-nos suas peças ou quem sabe à espreita de novas potencialidades utópicas e dialéticas” (p. 15). Porém, não estamos diante da consciência envenenada de Brás Cubas ou de Bento Santiago, que procuravam esconder sua posição de classe sob o niilismo universalista típico do final do século XIX. Aqui, a autoconsciência tem função precisamente contrária: “Já nos acréscimos do segundo tempo realizei uma inversão, com o objetivo de reforçar o sujeito que fala, a partir de seu lugar e visão de mundo, que aparecem em primeiro plano, jogando a temática abordada para o subtítulo. Não que o sujeito seja mais importante do que aquilo que diz, mas para frisar que o dito sempre pressupõe uma posição na sociedade” (p. 15). Ou seja, nada de esconder, mas de revelar.
Encontramos aí, sem dúvida, ecos da discussão contemporânea sobre o “lugar de fala”. O espírito aberto a demandas sociais e influxos cognitivos do autor contrasta com uma ciência dominada pelo universalismo da teoria neoclássica e um ambiente científico no qual seus participantes anseiam pela integração acadêmica via incorporação dos padrões e exigências dos países centrais anglófonos. A coragem em assumir uma posição marcada, inclusive usando de ironia à Machado, chama a atenção e tem consequências – bem explicitadas, por exemplo, numa pequena e saborosa trilogia de textos polêmicos no interior do livro. Refiro-me a “Debate econômico no Brasil e seus fantasmas”, “A aristocracia econômica” e “A cortina de fumaça da ‘desindustrialização’”, nos quais o autor polemiza com as posições de economistas brasileiros de direita e de esquerda.
Como em seu livro anterior, O Brasil desenvolvimentista e a trajetória de Rômulo Almeida: projeto, interpretação e utopia (Alameda), o nexo que ata os “contos”, “crônicas” e “novelas” de Um nacionalista reformista na periferia do sistema é o par “nacionalismo” e “reformas” – que, discretamente, ocupa o lugar do conceito de “desenvolvimento” utilizado no livro anterior. Incoerência do autor? Pouco provável. No sutil deslocamento está implícita a tese que articula os ensaios reunidos nesse livro: estamos aquém da categoria de “desenvolvimento” (ou melhor, Brasil desenvolvimentista) pois nos faltariam projeto, interpretação e utopia. Por esse ângulo, os livros se complementam e se opõem. Em um, há o exame aprofundado de um período histórico anterior, no qual o desenvolvimento estava em curso; no outro, que abarca as raízes imediatas do nosso presente, assinala-se uma regressão dos nossos horizontes de expectativas, seguido da sua (momentânea?) anulação a partir do golpe do impeachment de Dilma Rousseff em 2016. Resta indagar: como o passado deu no presente? Voltaremos ao ponto adiante.
No plano temático, a conexão entre os dois livros ocorre pela “novela” intitulada “Rômulo Almeida e Jesus Soares Pereira: o longo e difícil parto da Petrobras”, originalmente escrito para compor a tese de livre-docência do autor, mas que, por razões editoriais, acabou fora da sua publicação em formato de livro. Não é o caso de entrar nos meandros da argumentação cerrada do autor a respeito da gênese da petrolífera brasileira, mas de assinalar como a argumentação ali desenvolvida sintetiza os pontos principais do estilo de pensamento do autor. Em primeiro lugar, a partir da problemática do desenvolvimento, o vínculo entre questões do passado e do presente, sugeridas objetivamente pelo próprio contexto histórico no qual a pesquisa se desenvolveu e subjetivamente pela orientação de seu autor.
Adicionalmente, e nos remetendo novamente ao lugar dos intelectuais, é especialmente instrutivo o distanciamento que Barbosa estabelece em relação a Petróleo e nacionalismo (1968), de Gabriel Cohn – aliás, autor de um brilhante Prefácio a O Brasil desenvolvimentista. “Se Cohn acerta ao explicitar a racionalidade específica que caracteriza os técnicos, ele parece perder de vista a sua fidelidade à causa política em jogo” (BARBOSA, 2021b, p. 331). Se na posição de Cohn estão embutidos os ensinamentos de Max Weber e Karl Mannheim, fundamentais na sociologia uspiana sob a batuta de Florestan Fernandes, a perspectiva de Barbosa sobre os intelectuais vai noutra direção, talvez mais bem compreendida à luz da sua perspectiva inventiva – e, como já dito, instrumental – sobre as reflexões de Antonio Gramsci a respeito do tema. A diferença, no entanto, entre as perspectivas de Cohn e Barbosa não advém de escolhas apriorísticas, mas é resultado de pesquisas. Como assinala o autor, “o único dentre estes grupos que fazia a mediação técnica, política e ideológica com todos os demais era justamente aquele conformado pela Assessoria Econômica da Presidência”, da qual Almeida fazia parte (BARBOSA, 2021b, p. 332).
Em torno dos dilemas do desenvolvimento nacional orbitam os demais interesses de Barbosa. Por isso, pode parecer surpreendente seu interesse pela perspectiva teórica desenvolvida por Fernand Braudel. Para um historiador preocupado com as contingências da luta política, não seria estranho o interesse pela “economia-mundo” e pela “longa-duração”? O assunto mereceria debate. Mas o fato é que, em conexão com o estruturalismo latino-americano, Barbosa utiliza os ensinamentos da escola de Braudel para estabelecer as conexões locais com a dinâmica histórica global do capitalismo. Mais até: a própria definição de capitalismo com a qual o autor trabalha é braudeliana (cf. “Crise global do capitalismo ou reorganização da economia-mundo capitalista?”), o que o permitiu polemizar com a perspectiva “mercadista” de Gustavo Franco (cf. “Sim, precisamos falar sobre capitalismo”). A atenção do autor sobre a ascensão chinesa, muito anterior ao interesse hoje em voga, também dialoga com essa tradição, como revela a entusiasmada resenha do livro de Giovanni Arrighi Adam Smith em Pequim (Cf. “O que Adam Smith foi fazer na China?”). O que está em jogo aí é essencial: qual a relação entre capitalismo e mercado?
Porém, o núcleo de força do livro está nos escritos dedicados aos dilemas nacionais surgidos durante e depois do período marcado pelos governos dirigidos pelo Partido dos Trabalhadores (PT). A eles, Barbosa mostra uma mistura particular de simpatia e crítica. A primeira aparece nos artigos dedicados à crítica das interpretações macroeconômicas liberais (cf. “O governo Lula e a classe média” e “O Brazil, na visão da revista inglesa The Economist”). Já a segunda surge quando são examinadas as políticas econômicas de Lula e Dilma (cf. “Levy or not Levy: That is not the question!”) ou mesmo a dimensão desmobilizadora dos mandatos petistas (cf. “E se conseguirmos deter o golpe? O que fazemos?”).
O que dizer a respeito da situação? Em um mundo dominado por frases de impacto, raciocínios simplórios, memes e thumbs, a posição de Barbosa poderia ser facilmente interpretada como incoerente. No entanto, não é o caso. E a defesa de um pensamento complexo e multidisciplinar aparece em diálogos críticos com a direita e também com intelectuais de esquerda (Cf. “’A tolice da inteligência’ ou a dívida do vício à virtude”). Esse posicionamento difícil talvez explique a ênfase do autor na explicitação da sua autoconsciência.
“Difícil” porque, ao mesmo tempo em que percebe a dimensão popular dos governos do PT, não fecha os olhos aos seus limites. Para apontá-los – eis outra dificuldade! – Barbosa se vê na tentativa (romuliana?) de articular realismo e utopia. Exemplo: “E para assegurar um mínimo de racionalidade ao final do mandato da presidenta Dilma, condição imprescindível para se recuperar o crescimento econômico e a confiança no país. O não retrocesso hoje é a grande meta […]. Trata-se de uma posição pragmática como exige o momento. […] Devemos, então, abrir mão da utopia? Não, a utopia deve começar a ser construída desde já” (BARBOSA, 2021b, p. 94).
Os vários argumentos apresentados por Barbosa sobre o período mereceriam discussão detalhada. Diante da impossibilidade de levá-la adiante, elejo um argumento para examinar: o de que estaríamos, a partir de 2016, em um processo histórico do qual surgirá um novo regime político, a “lumpencracia”. Não parece casual que o texto seja o último da primeira parte, como uma espécie de síntese da história do presente no Brasil (cf. “A lumpencracia”)
Inspirado pela célebre questão de Hannah Arendt diante do totalitarismo – como compreender o que jamais poderia ter ocorrido? –, o autor descarta noções como “populismo”, “fascismo” e “nacionalismo” como ferramentas teóricas para interpretar o nosso presente. É no lugar delas que cunha o provocativo conceito de “lumpencracia” – “como um convite à reflexão por meio de uma síntese estilizada, fazendo uso literalmente da redução ao absurdo” (BARBOSA, 2021b, p. 191). Ou seja, estaríamos diante de um novo regime, capitaneado provisoriamente por diversos setores “lumpen” que, unidos, teriam conseguido implodir o sistema político brasileiro.
Por quê “provisoriamente”? Porque, recorrendo a um raciocínio marxizante, Barbosa nota que: “a associação [é] mais simbólica que real entre os diversos lumpens não gera consciência. Não se trata tampouco de falsa consciência, pois ela sequer comporta ideologia. A estupidez ostentada por seus representantes provém do subconsciente que lhes faz arrotar as vísceras de nossa má-formação nacional. O senso comum, feito das idiossincrasias destes párias de classe ou de casta sobre um passado idealizado, é o que dá a liga. A sua linguagem é uma colcha feita de traumas e preconceitos, costurada à imagem e semelhança da nossa disforme tessitura social erigida no altar da desigualdade” (p. 192-3).
A hipótese dá o que pensar. Diversos autores diagnosticaram o fim da Nova República, embora em sentidos variados. Há indícios suficientemente fortes para sustentar a tese – a conspiração contra Rousseff, o papel antirrepublicano de forças do Judiciário, a inflexão da burguesia brasileira, a ascensão da extrema-direita como força eleitoral, a organização do Centrão, etc. De uma forma ou de outra, os “lumpens” a que Barbosa se refere estão dispersos, porém associados, entre tais forças políticas.
Outra questão, no entanto, diz respeito à ascensão de tais grupos. Se não é o caso de “cobrar” do autor uma forte tese a respeito em um artigo de conjuntura, pode-se sugerir que seria o caso de explicitar o porquê e como esses grupos se formaram e se uniram. Afinal de contas, durante 14 anos, o PT governou o país – inclusive com a ajuda de alguns dos setores que depois o apunhalariam. Há, aí, uma agenda de investigação rica a ser feita.
Tudo somado, como ficamos? Pelo que se viu, estamos diante de um intelectual engajado na recuperação da forma de pensar e atuar de um conjunto de economistas do “Brasil desenvolvimentista” deixada de lado por muitos de seus pares, inclusive os de esquerda. “Recuperação” que não implica apenas o reexame minucioso dos clássicos fundadores, mas os toma como inspiradores das tentativas contemporâneas de reinterpretar o passado e o presente, em busca de um futuro (Cf. “Do ciclo expansivo ao ajuste fiscal: uma interpretação estruturalista). Nutrindo-se deles, o autor conecta teoria, história e política, tornando a história econômica disciplina viva, interpeladora dos enigmas que se reconfiguram a cada ciclo histórico.
Como Rômulo Almeida e os demais desenvolvimentistas do período 1945-1964, Barbosa é ciente da dimensão coletiva da tarefa analítica e política que se colocou e colocou para a esquerda (cf. “Ser de esquerda no Brasil hoje”). Sim, “tarefa” no singular, pois vimos que o autor sustenta, a todo momento, a conexão entre projeto, interpretação e utopia. Um dos resultados dessa consciência é a organização do Laboratório Interdisciplinar “Repensando o desenvolvimento” no IEB-USP, animado grupo no qual se reúnem pesquisadores e militantes das mais diversas áreas e especialidades, todos dedicados, justamente, a tematizar, com liberdade e abertura de espírito, esse conceito-problema que sintetiza a aspiração nacional por um país mais igualitário.
Navegando contra a corrente da departamentalização do espírito e do estreitamento do nosso horizonte intelectual e político, a bem-vinda amplitude do projeto intelectual embute questões que deveriam ser mais bem examinadas. Uma delas se refere ao “nacionalismo”. Num momento em que o universalismo implicado na globalização entra em crise e os “velhos” e “novos” descontentes reagem com bandeiras nacionalistas xenofóbicas e excludentes, qual o lugar histórico de um nacionalismo à esquerda?
Barbosa reconhece o problema. Ao mesmo tempo em que afirma que “o nacionalismo parece coisa do passado”, se pergunta “ser nacionalista no Brasil do século XXI significa o quê?”, para logo completar que “essa pergunta vale mais do que qualquer possível resposta” (2021b, p. 15). Exercitando sua autoconsciência, o próprio autor admite que a pergunta “revela uma resistência em abrir mão de um substantivo cujo sentido pode e deve ser ressignificado na nossa contemporaneidade” (ibidem). Caberia ampliar a indagação, sob o risco de cortar prematuramente o movimento da reflexão. Como podemos saber que ele “pode e deve ser ressignificado na nossa contemporaneidade” se não sabemos o que ele é? Tal como explicitada, a tese não teria se convertido em premissa, invertendo o fluxo do raciocínio?
Entre as ressonâncias concretas do problema, a pergunta fundamental estaria no seguinte: o que significa “nação” hoje? Tal como mobilizado, o “nacionalismo” não implicaria uma aceitação sobre a estabilidade de uma forma política específica – estatal e nacional – que pode estar em crise? Quais as perspectivas dos Estados não centrais diante do agigantamento de empresas globais de tecnologia, talvez capazes de manipular eleições? Em última instância, o capitalismo não erodiria o arranjo estatal, do qual, contraditoriamente, se alimenta financeira e politicamente?
Essas questões nos conduzem a outras, mais diretamente vinculadas à conjuntura brasileira. Por exemplo, em “A falta que faz um projeto nacional”, Barbosa afirma e se pergunta: “o ciclo expansivo do Governo Lula tinha tudo para lançar um projeto nacional de fôlego. Por que não o fez?” (BARBOSA, 2021b, p. 85). Mais adiante: “Era a hora, se […] tivéssemos estruturado um projeto nacional, com base social, enraizamento regional, reforma do Estado e ações concretas nos planos da política interna e externa, tendo por objetivo o desenvolvimento com ampliação da cidadania.” (idem, p. 86).
Resta compreender: por que não houve o salto? A questão é complexa e mereceu a atenção de um dos inspiradores de Barbosa (cf. o ensaio “O momento Lênin”, de Francisco de Oliveira). A resposta não interessa pelo eventual problema moral das lideranças do governo Lula, como assinalaram boa parte de seus críticos à direita e à esquerda, mas pelo problema político que articula: dadas as condições estruturais e os atores “certos na hora certa”, o que faltou? Teriam os intelectuais eventualmente responsáveis pela formulação desse projeto faltado ao seu encontro com a História?
No seu final, essas notas – bastante incompletas – voltam de onde partiram: países periféricos são exigentes com seus intelectuais. A estes não é permitido entregar os pontos, como bem mostram os livros de Barbosa.
*Leonardo Belinelli é doutor em ciência política pela USP, pesquisador associado do Centro de Estudos da Cultura Contemporânea (CEDEC) e editor da Revista Brasileira de Informação Bibliográfica em Ciências Sociais (BIB/ANPOCS).
Publicado originalmente no Boletim Lua Nova.
Referência
Alexandre de Freitas Barbosa. Um nacionalista reformista na periferia do sistema: reflexões de economia política. Belo Horizonte, Fino Traço /IEB-USP, 2021, 408 págs.