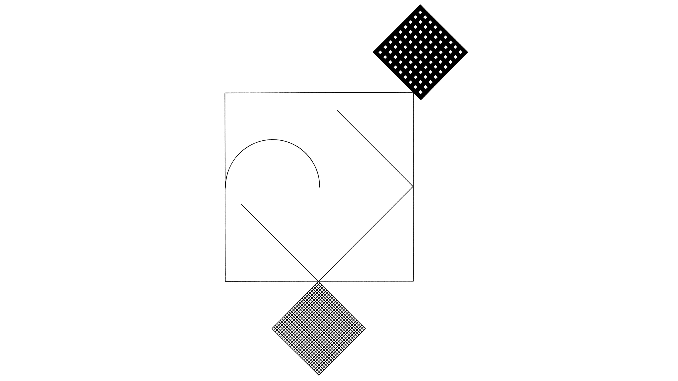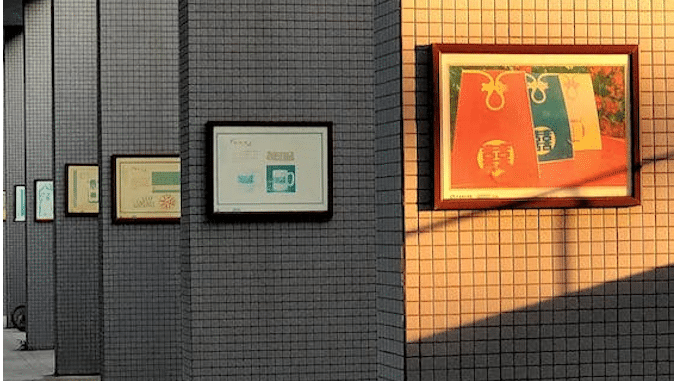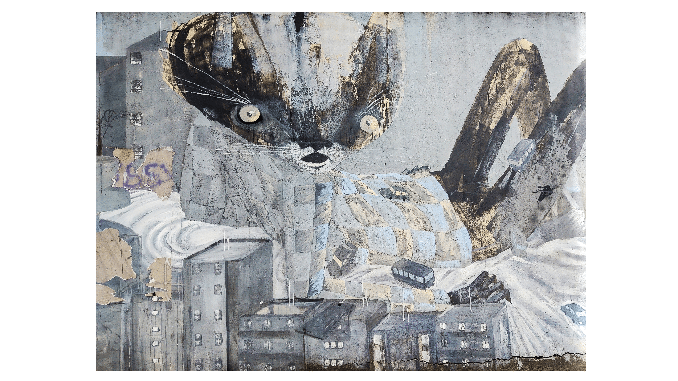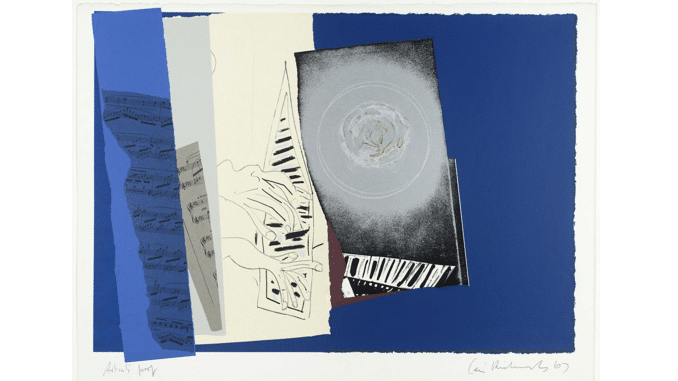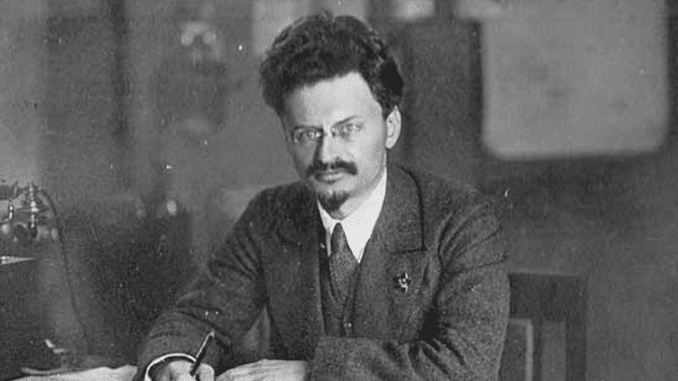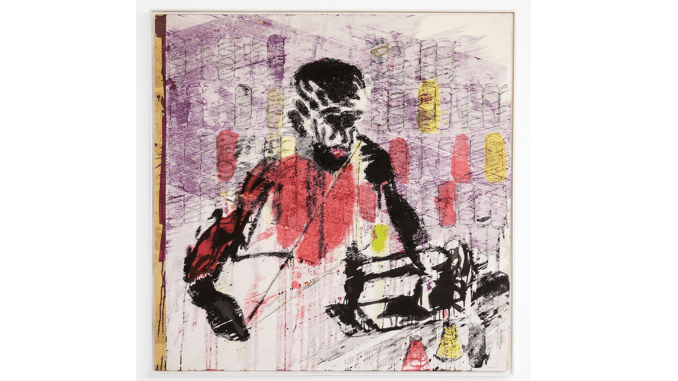Por DYLAN RILEY*
As teorias da história são, como muitas ideias de aparência excessivamente ambiciosas, inteiramente inevitáveis
Por que a história é necessária? Em que sentido ela é um elemento constitutivo da humanidade? De certa forma, as respostas para tais questões podem ser simples e diretas. Seres humanos são animais teleológicos. Sob um determinado conjunto de relações e condições eles formulam os fins que querem atingir. Mas qual a relação dessas “micro-histórias” com a autocompreensão da espécie humana de modo geral?
A melhor forma de abordar esse é problema é se perguntar o que essas micro-histórias implicam; ou seja, identificar as condições de possibilidade de atuar de uma forma micro-histórica. Uma orientação teleológica consegue existir sem a “história” em seu sentido mais geral? Ou, colocando a pergunta de outra forma: as “histórias pequenas” já sugerem ou fazem referência a uma “história maior”? Elas conseguem existir sem isso?
Para discutir essas questões com clareza precisamos distinguir entre a perspectiva do ator e do observador na micro-história. Para o ator, o significado e sentido de uma ação particular está inteiramente dispendido na própria ação. Consideremos, por exemplo, a decisão de começar a trabalhar em determinado emprego. Imagine que o ator decida trabalhar como um motorista de Uber porque as horas são flexíveis e o dinheiro garante sua subsistência.
Da sua perspectiva, o sentido da sequência de ações que o levaram àquele emprego está inteiramente depositado em seu desejo de pagar o aluguel e manter alguma autonomia. Mas o observador pode interpretar essa sequência de modo bem diferente. Da perspectiva dele, a própria possibilidade de trabalhar como um motorista de Uber estaria conectada à casualização do trabalho de táxi, à tecnologia do smartphone, ao uso generalizado de sistemas de pagamentos digitais e um amplo conjunto de condições históricas. Também é possível conectar o desejo do ator de ter um certo tipo de autonomia e flexibilidade com o surgimento do sujeito neoliberal e a ética do empreendedorismo pessoal associada a isso.
O ponto é que da perspectiva do observador, o significado de uma ação depende da relação que a ação tem com uma fase específica do desenvolvimento histórico. (Antes de prosseguir, é importante enfatizar que a distinção entre “ator” e “observador” é puramente analítica. A possibilidade dessas duas perspectivas se sobreporem, do ator ter consciência-de-si – quando o ator em si se torna observador, construindo a si próprio como um objeto da consciência, tornando-se um terceiro em relação a suas próprias ações – é em si altamente variável, histórica e socialmente falando.)
Para historicizar uma ação, entretanto, inevitavelmente nos deparamos com a questão: como parte de que desenvolvimento histórico maior, e em que fase dentro deste? Mas e se considerarmos que a história não tem forma alguma? E se sustentarmos a visão de que a história, em seu sentido mais amplo, é uma somatória de acidentes, só “uma coisa maldita depois da outra”? O paradoxo de não se ter uma teoria da história é que essa posição é em si uma teoria do desenvolvimento histórico, uma teoria que postula que a história não se desenvolve ou que, se há desenvolvimento, a forma deste é inescrutável.
A história, partindo desse ponto de vista, seria como a coisa-em-si-mesma kantiana, cujos paradoxos e contradições já foram muito bem explicados diversas vezes. Todas as críticas a Kant podem ser resumidas a uma questão fundamental: como podemos dizer que algo é inacessível à consciência humana, que não podemos conhecer esse algo, se ao dizermos que tal objeto é incognoscível ou inefável estamos necessariamente dizendo algo sobre ele? (No final das contas acaba sendo muito difícil não falar sobre as coisas em si mesmas e ser levado a toda sorte de dogmatismos.)
Talvez uma versão diferente desse posicionamento cético seja possível. Tal versão sustentaria que podemos ter teorias parciais do desenvolvimento, mas nenhuma “narrativa grandiosa” ou “grande história”. Essa posição – comum na tradição da sociologia weberiana – parece atraente e razoável. E, no entanto, ela também sofre com um paradoxo. Em primeiro lugar, por que os weberianos têm tanta certeza de que teorias parciais da história são possíveis? O que os faz tão confiantes de que a história não é total ou, ao menos, totalizante? O ceticismo deles não é uma espécie de dogmatismo escondido?
Depois, existe outro problema, mais prático. Se a história é “parcialmente” explicável, em que “partes” ela deve ser dividida? Por exemplo: deveríamos tratar as “ideias” como uma sequência causal e a “produção” como outro tipo de sequência, paralela? Mesmo que tal tratamento fosse correto em um período específico, não seria dogmático afirmar que essa autonomia entre ideias e produção sempre existiu? Podemos realmente dizer que o mesmo enquadramento conceitual se aplica a todas as épocas históricas ou os conceitos devem ser formulados para as eras especificas que buscam descrever? Parece que as teorias da história são, como muitas ideias de aparência excessivamente ambiciosas, inteiramente inevitáveis.
*Dylan Riley é professor de sociologia da Universidade da Califórnia, em Berkeley. Autor, entre outros livros, de Microverses: observations from a shattered present (Verso).
Tradução: Julio Tude d’Avila.
A Terra é Redonda existe graças aos nossos leitores e apoiadores.
Ajude-nos a manter esta ideia.
CONTRIBUA